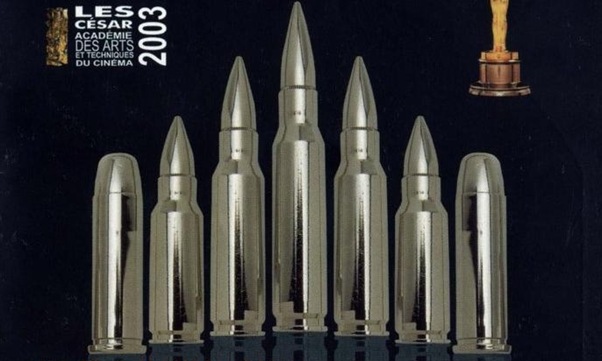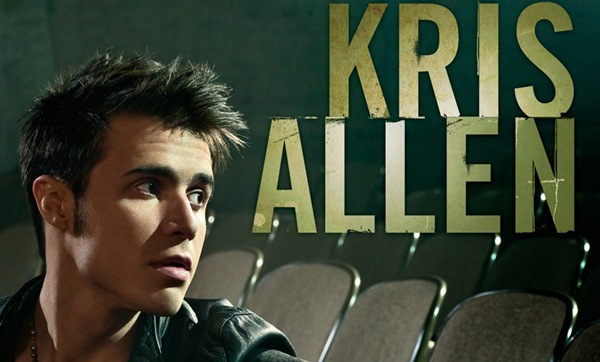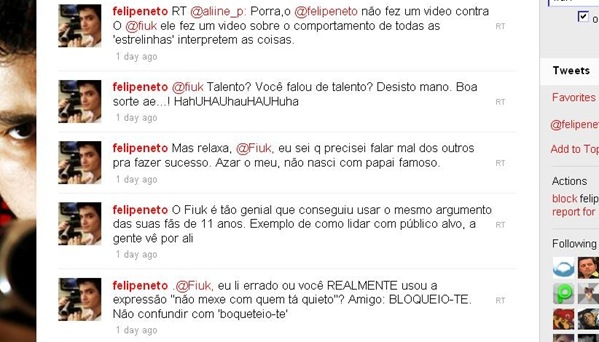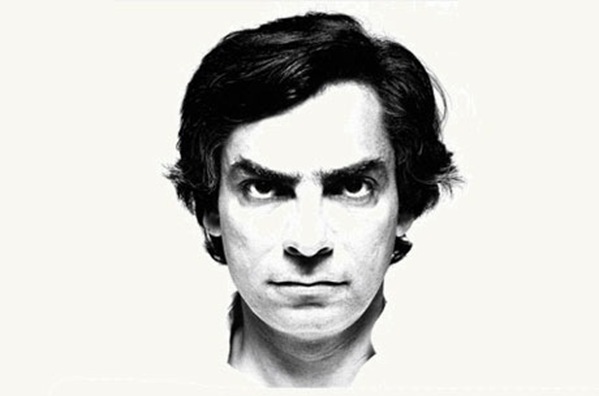Maroon 5
A foto: Recorte da capa de Hands All Over, terceiro e mais recente álbum dos californianos, desde já presença garantida em muitas listas de melhores do ano por aí. A má notícia: pode ser uma das últimas gravações de estúdio do grupo, de acordo com o próprio vocalista, Adam Levine.
A história: Quatro rapazes de Los Angeles montam uma banda de garagem em meados dos anos 1990, e lançam um álbum independente sob o nome de Kara’s Flowers. Em 2001, esses mesmos quatro rapazes se juntam a um guitarrista do outro lado do país e, um ano depois liberam, já como Maroon 5, a bomba pop intitulada Songs About Jane. Inspirado em Stevie Wonder, mas com elementos inéditos até então, o disco fez de “This Love”, “Sunday Morning” e “She Will Be Loved” hinos de toda uma geração que descobria a música nessa época. O estilo esganiçado do vocalista Adam Levine e as linhas de baixo e guitarra marcam a banda como uma das personalidades mais fortes a surgir na música contemporânea. 2,7 milhões de cópias vendidas e um baterista trocado depois, em 2007 eles retornaram com It Won’t Be Soon Before Long, que colocou Prince e Michael Jackson na mistura sem entornar o caldo e emplacou “Won’t Go Home Without You” e “Wake Up Call” na cabeça do público. Agora, segundo a própria banda, eles alcançam o auge em Hands All Over, que pode se tornar a penúltima gravação de estúdio do Maroon 5. Seria o fim de uma era, sem dúvida alguma.
Além dos hits: Do Songs About Jane vale destacar “Tangled” e “The Sun”, ambas composições-solo do vocalista Levine. It Won’t Be Soon Before Long, por sua vez, traz pérolas como “Little of Your Time” e “Kiwi”. Já em Hands All Over a lista é imensa. “Stutter” e “Don’t Know Nothing” são provavelmente as melhores, mas quer mesmo uma dica? Ouça o álbum inteiro.

OneRepublic
A foto: Com o produtor/rapper Timbaland, em foto promocional para o remix de “Apologize”, até hoje o maior sucesso da banda de Ryan Tedder. O mais renomado produtor americano hoje incluiu a canção do grupo, quase intocada, no seu album Shock Value, fazendo dela um sucesso global.
A história: Tedder é figurinha marcada no jogo da indústria musical ianque. Desde 2002 (quatro anos antes da banda conseguir destaque no MySpace e assinar para lançar Dreaming Out Loud) o americano de Oklahoma viajava ao lado de Timbaland, aprendendo as manhas da produção musical. Sua lista de composições gravadas por artistas de destaque é bem mais impressionante, inclusive, que a de hits do OneRepublic: inclua aí “Halo” (Beyoncé), “Already Gone” (Kelly Clarkson), “Battlefield” (Jordin Sparks), “Please Don’t Stop The Rain” (James Morrison) e “Bleeding Love” (Leona Lewis), entre muitas outras. Todas com sua assinatura inconfundível, a mesma que pode ser ouvida nos melhores momentos do One Republic (grafado oficialmente sem o espaço entre as palavras), uma banda auto-proclamada “sem gênero”, mas que tem muito de pop rock no DNA. Dreaming Out Loud veio em 2006 como fruto de grande sucesso no MySpace, colocando “Apologize” no topo das paradas com seu clima meio opressivo e lançando a empolgante “Stop and Stare” no rastro do sucesso da primeira. Waking Up, álbum ligeiramente mais conceitual, não teve tanta sorte com o primeiro (e brilhante) hit, “All The Right Moves”.
Além dos hits: Quase todo o setlist do Dreaming Out Loud merece algum destaque. Achados do nível de “Mercy”, “All Fall Down” e “Tyrant” são a rotina do OneRepublic, mas ganham pontos por serem absolutamente únicos no cenário musical. Irregular, do Waking Up vale destacar faixas como “Secrets” e “Marchin’ On”, singles menores que equilibram experimentalismo com faro pop.

The Fray
A foto: Imagem promocional da banda em uma estação de metrô, a mesma usada para compor a capa do último álbum, auto-intitulado, de 2009. Apesar das críticas quanto ao estilo burocrático de escrita e execução da banda, o The Fray continua vendendo feito água em terras americanas.
A história: Como a maioria das bandas americanas, tudo começou com os colegas de escola Isaac Slade e Joe King, de Denver, juntando-se em 2002 para formar uma banda com colegas e membros da família sortidos e lançando um EP (Extended Play, gravação com poucas músicas que serve de cartão de visitas para a maioria das bandas). Foi no segundo destes, intitulado The Reason, que o The Fray começou a ganhar destaque no cenário local, com a canção “Over My Head (Cable Car)” ganhando um artigo de destaque na publicação alternativa Westword. Daí para os estúdios dos grandes selos foi um pulo, e “Over My Head” estava entre as faixas de How to Save a Life, de 2006, gravado após a descoberta da banda pelo produtor Mike Flynn. Foi com a canção-título, segundo single do álbum, que a banda ganhou projeção internacional, inclusive com a entrada da música nas trilhas das séries de TV Grey’s Anatomy e Scrubs, no mesmo ano. Três anos depois, eles nos vem com The Fray, auto-intitulado, todo baseado na mesma linha piano-rock do álbum anterior, uma coleção de canções pesadas e emocionantes como apenas eles sabem fazer. “Heartless”, cover de Kanye West, e o single “You Found Me”, são grandes sucessos em terras americanas.
Além dos hits: “She Is” abre o How to Save a Life com uma vibe interessante, repentina, mas os grandes destaques do disco são as lentas e opressivas “Heaven Forbid” e “Hundred”, dona de linha de piano maravilhosa. O álbum auto-intitulado oferece um som mais estufado, com destaque para a intensidade de “Syndicate” e “Absolute”.

Carolina Liar
A foto: Os seis rapazes do Carolina Liar fazem pose “criativa” de boy band moderna, e não ficam muito longe dessa denominação. A diferença: dessa vez o som é mais pesado, com mais significado e mais qualidade. Cortesia de instrumentistas suecos e do produtor Max Martin.
A história: Aqui a figura chave não é o vocalista, nem nenum dos membros da própria banda, e sim o produtor. Max Martin, como é conhecido no show business, é o homem que trouxe todos os hits do Backstreet Boys, ‘NSYNC e Britney Spears dos anos 1990, e que hoje trabalha ao lado de Pink e Kelly Clarkson em algumas de suas mais conhecidas gravações. Especialista em boy bands que é, Martin pescou um vocalista da cena underground de Los Angeles, juntou com cinco músicos suecos contratados e lançou Coming to Terms, o protótipo de como deve ser um sucesso mundial contemporâneo. Deu certo com “Show Me What I’m Looking For”, o maior single do álbum de estreia da banda, mas observar suas gravações é perceber o quanto o gosto e as exigências de quem ouve música mudaram nos últimos dez anos. O Carolina é bem mais denso, musicalmente, do que seus colegas dos anos 1990, com guitarras mais pesadas e levadas mais empolgantes ao invés do pop-eletrônico sem personalidade da década passada. É esperar que, nos próximos álbuns, a banda decole de vez e emplaque hit atrás de hit, como parece ter nascido para fazer. Por enquanto, é peça menor nesse jogo.
Além dos hits: O Coming To Terms é um disco surpreendentemente uniforme e confiável, tanto no sentido em que segue um mesmo estilo em todas as suas 12 faixas quanto naquele que implica uma consistência qualitativa apurada. Além do single, vale destacar “I’m Not Over”, “Last Night” e “Simple Life”.

Lady Antebellum
A foto: Vestidos de roqueiros, abraçadinhos, eles quase convencem. Mas não é capa de Need You Now, o segundo e mais votado disco da carreira da Lady Antebellum, que vai fazê-los negar as raízes francamente countries. Para a nova geração, é claro, mas com cheirinho de som velho.
A história: Sim, eles vieram de Nashville. A terra do country americano produz pequenos astros todos os anos por lá, mas poucos chegam ao segundo disco fazendo de uma canção calorosamente romântica um hit internacional e colocando a balada country de volta a voga mundo afora. “Need You Now” é o nome da música e do segundo álbum desse trio que reúne um duo de vocais com o linear Charles Kelsey e a desenvolta Hillary Scott, já com ares de nova diva ianque. Terceiro elemento da mistura, Dave Heywood faz backing vocals, toca guitarra, piano e mandolin. Nessa formação, a banda conseguiu destaque ao trabalhar ao lado do renomado Jim Brickman, artista de new age pouco conhecido por aqui, mas dono de um programa de rádio em terras americanas, na canção “Never Alone”. Logo em seguida, o primeiro álbum, auto-intitulado Lady Antebellum, fez bastante sucesso, ainda que o single-maior, “Love Don’t Live Here”, tenha feito pouco barulho internacionalmente. É com Need You Now que, ‘domados’ em um som mais pop, que o country do Lady Antebellum pode alçar vôos maiores. E pode apostar que vai.
Além dos hits: Do primeiro álbum é difícil destacar alguma coisa do som uniforme e country por tradição que a banda fazia. “I Run to You” e “Can’t Take My Eyes Off You” tem seus momentos de brilhantismo, no entanto. Need You Now deixa sobressair canções mais sofisticadas, como “When You Got a Good Thing”, “Stars Tonight” e “Hello World”.


“Sober é uma canção sombria, uma canção triste. E é sobre as vozes que escolhemos, e eu tinha essa ideia na minha cabeça de ‘Como eu me sinto tão bem, se estou sóbria?’… Eu não sei, é apenas uma canção realmente, realmente pessoal, e muito bonita. É uma das minhas favoritas”
(Alecia Beth Moore, a P!nk, acerca de “Sober”, single do álbum Funhouse)
“Por sorte, eu tive uma mãe e um pai que me ajudaram a crescer confortável comigo mesma. Eu tenho uma figura curvilínea, e os garotos gostam disso. E cantar não é sobre o melhor visual ou ser a mais bonita. Eu faço isso porque amo fazer isso. Veja, ninguém mais tem meu traseiro. Ningué tem meus olhos. Ninguém tem meu nariz. É tudo meu. E é isso que me faz diferente de todo mundo”
(Kelly Clarkson responde aos repórteres que a chamam de “big girl”)