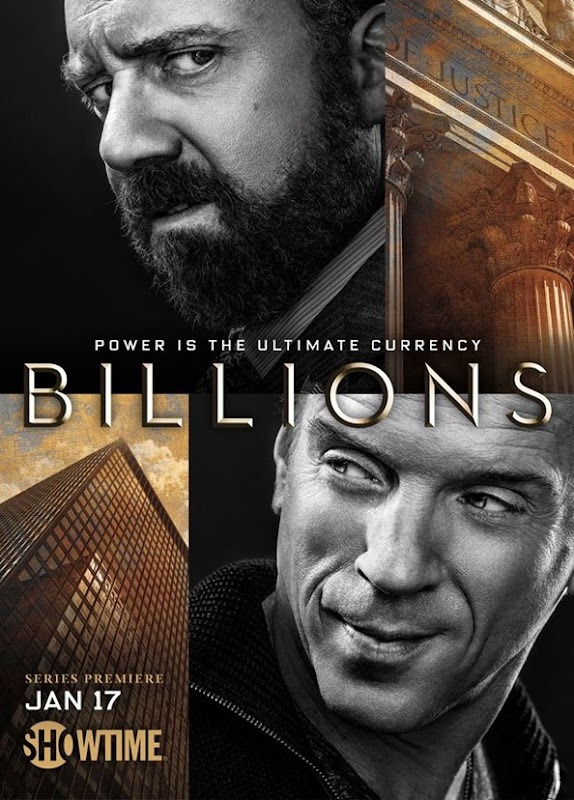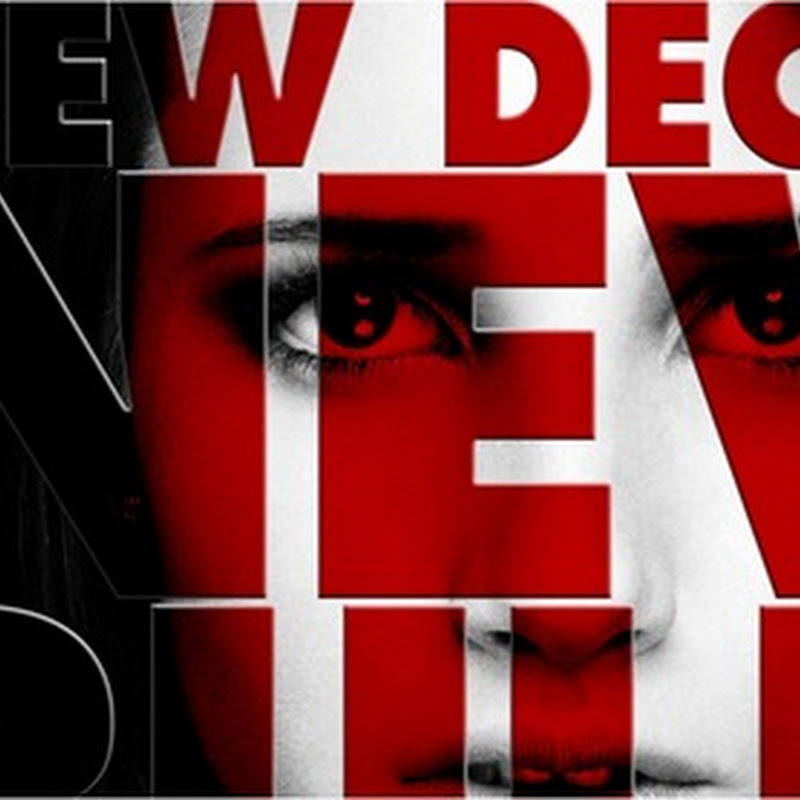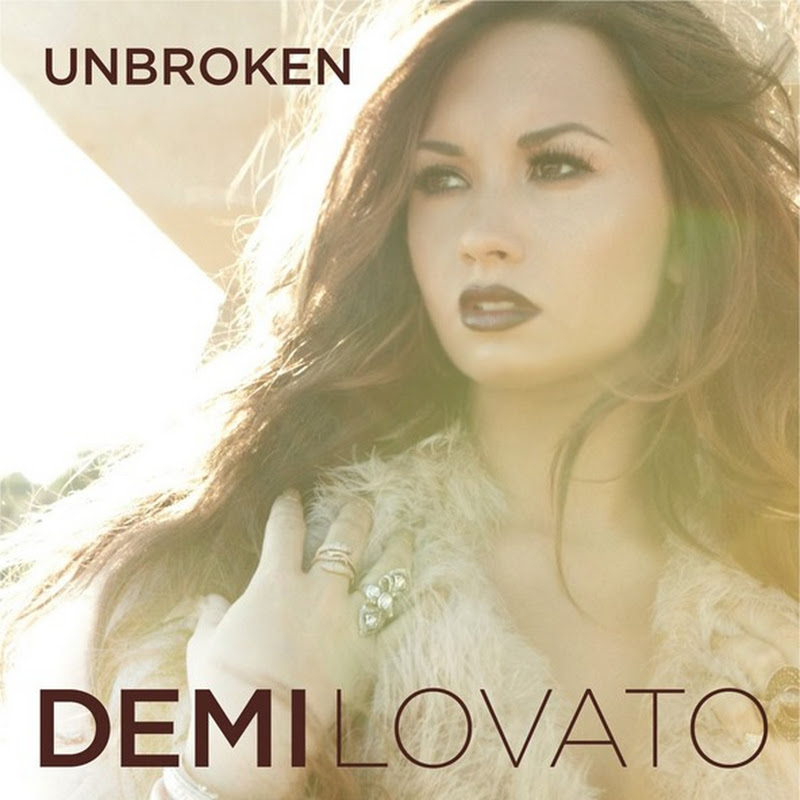por Caio Coletti
Vamos deixar claro: Orphan Black já é ótima há quatro anos, e não é só por causa de Tatiana Maslany. Se os muitos elogios para a interpretação da canadense em múltiplos papeis são mais do que merecidos, a série merece aplausos também por usar com sabedoria imensa seu limitado elenco coadjuvante (Jordan Gavaris é uma preciosidade, vamos ser sinceros), servir e ouvir aos fãs sem exageros e, especialmente, contar com habilidade tremenda uma história que se apoia na construção e nos detalhes da vida de cada um dos membros do “clone club”, fazendo de cada microcosmo um castelinho de cartas que desmorona e se reergue com facilidade impressionante, mas nunca perde a essência. No entanto, os 10 episódios da 4ª (e penúltima) temporada trazem algo de especial, e é flagrante que tenham anunciado logo depois dela que a série deve terminar em 2017.
À parte de sua dimensão pessoal e de seu passeio pelas vidas, políticas e sentimentais, dessas personagens, Orphan Black sempre manteve seu discurso de ficção científica colado nos clichês do gênero de uma forma que agradasse ao espectador acostumado com essas convenções. Em palavras mais simples, Orphan Black sempre foi um delicioso pastiche de ficção científica que se tornava realmente especial por outros motivos – no quarto ano, no entanto, essa trama principal finalmente se abre e floresce em um discurso mais complexo, que analisa não só a dimensão de “vida humana como propriedade”, que é inerente de quase toda narrativa desse tipo, como também uma consideração mais complexa dos efeitos que essa opressão tem sobre os oprimidos.
Ditas repetidamente que são “menos que pessoas” por serem clonadas, as protagonistas de Orphan Black se ramificam em uma série de situações – a procura pela humanização é um passo importante na vida de Cosima, a mais generosa do grupo; a afirmação da segurança e aprovação social é fundamental para Alison; o entendimento do motivo pelo qual continua viva é essencial para Sarah; o eterno conflito entre independência e conexão humana é o que conduz as jornadas de Helena e MK, essa última apresentada na 4ª temporada… e por aí vai. Quando chegamos à vilanesca Rachel, no entanto, a história é outra, porque sua forma de reagir à opressão é buscar mais poder para que vire o jogo e se torne a opressora. Na jornada da personagem mais improvável, Orphan Black nos quer dizer mais do que jamais ambicionou.
O mais bacana, no entanto, é que Orphan Black condena essa atitude de Rachel sem deixar de mostrá-la como vítima de um sistema que a obrigou a ser assim. Criada por uma “mãe” que, no fundo, nunca lhe viu como nada a não ser uma experiência genética, Rachel é uma mulher assustada com o que acha ser a verdade sobre si, e que só conheceu poder através da violência. Não é uma situação muito longe da nossa realidade, em suma, assim como Orphan Black sempre procurou ser com a sua construção de personagem – a diferença é que só agora ela encontrou uma ressonância social mais óbvia e urgente, que a posicione como uma série tendo algo poderoso a dizer.
E que espetacular que isso tenha acontecido justamente quando a série se prepara para fechar trabalhos dentro de mais 10 episódios. Dessa forma, os showrunners John Fawcett e Graeme Manson não arriscam se perder pelo caminho, e tem a rara oportunidade de entregar uma conclusão potente para essa aula de narrativa de cinco anos. Por mais triste que seja ver Orphan Black ir embora, é espetacular vê-la chegando ao fim de maneira tão certeira e eficiente quanto pode – especialmente com uma Tatiana Maslany que mais uma vez impressiona por todas as sutilezas e obviedades que coloca em suas personagens, equilibrando com maestria as diferenças gráficas e notáveis entre elas e a jornada particular de cada uma. Emocionalmente gigantesca quando tem que ser (“The Antisocialism of Sex”, episódio 4x07, sendo provavelmente o exemplo mais óbvio), Maslany é confiável e confiavelmente humana a cada passo do caminho.
Com uma temporada espetacular, Orphan Black segue seu caminho para se tornar uma das séries de ficção científica mais notáveis do nosso tempo. Quando terminar aos 50 episódios no ano que vem, vale apostar que a produção canadense terá mudado o nosso cenário televisivo de muitas formas – tecnicamente, com seus truques para trazer clones à vida; praticamente, com a forma como trouxe a ótima televisão canadense para o resto do mundo; e narrativamente, visto que ajudou a renovar o fôlego da ficção científica na televisão e a provar que a força dos fãs em era de redes sociais pode fazer ou quebrar a trajetória de um produto. Além de tudo isso, na 4ª temporada, Orphan Black encontra uma razão para existir no mundo além do microcosmo televisivo e de gênero – e é isso que a faz verdadeiramente excepcional.
✰✰✰✰✰ (5/5)
Orphan Black – 4ª temporada (Canadá, 2016)
Direção: John Fawcett, Ken Girotti, Peter Stebbings, David Wellington, Grant Harvey, David Frazee, etc.
Roteiro: Graeme Manson, Russ Cochrane, Aubrey Nealon, Alex Levine, Kate Melville, Chris Roberts, Nikolijne Troubetzkoy, Peter Mohan, etc,
Elenco: Tatiana Maslany, Jorgan Gavaris, Kevin Hanchard, Kristian Bruun, Ari Millen, Josh Vokey, Maria Doyle Kennedy, James Frain, Evelyne Brochu, Rosemary Dunsmore, Skyler Wexler, Jessalyn Wanlim
10 episódios