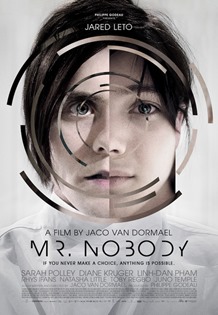por Caio Coletti
Nem todos os filmes merecem (ou pedem) uma análise complexa como a que fazemos com alguns dos lançamentos mais “quentes” ou filmes que descobrimos e nos surpreendem positivamente. É levando em consideração a função da crítica e da resenha como uma orientação do público em relação ao que vai ser visto em determinado filme que eu resolvi criar essa coluna, que visa falar brevemente dos filmes que não ganharam review completo no site. Vamos lá:
Deadpool (EUA/Canadá, 2016)
Direção: Tim Miller
Roteiro: Rhett Reese & Paul Wernick
Elenco: Ryan Reynolds, Karan Soni, Ed Skrein, T.J. Miller, Morena Baccarin, Gina Carano, Leslie Uggams
108 minutos
Há uma parte obscura do fandom dos filmes de heróis que adorou Deadpool, e o levou a um sucesso imenso de mais de US$700 milhões no mundo todo, por todas as razões erradas. Celebrado por ser “politicamente incorreto” e “metalinguístico”, Deadpool é um empreendimento bem mais complexo do que o que se diz dele faz parecer. A incorreção política de seu protagonista não existe aqui como uma virtude, e sim como uma parte de sua natureza cínica que coloca o “anti-“ em sua denominação de “anti-herói”. Deadpool é constantemente engraçado, e apenas em alguns momentos ofensivo – e esses momentos são menos tropeços de roteiro e mais caracterização intencional. Deadpool não quer que torçamos por seu herói da forma como torcemos pelos X-Men; o mundo que o filme apresenta é mais sujo, mais niilista e mais banal, que se leva muito menos a sério. Um adjetivo que os adoradores do mercenário parecem ter acertado é “inovador”, porque de fato Deapool quebra convenções e tons com muito mais abandono do que os filmes de super-heróis discretamente subversivos que foram feitos no último par de anos. A metalinguagem e a conversa com o público faz parte dessa inovação, assim como os pulos temporais que criam uma trama que parece muito mais complexa do que realmente é. Uma história de origem, vingança e paixão bem convencional com algumas brincadeiras estruturais ainda pode criar um belo pedaço de cinema e narrativa, ao que parece.
Dizer que Reynolds “nasceu” para o papel é subestimar o seu trabalho tanto aqui quanto em outros cantos da carreira. O ator já mostrou por A+B que encara personagens diferentes e interessantes com a cara e a coragem, e mesmo que Deadpool o coloque em território mais familiar com seu humor rápido e ácido, o ator canadense se faz também uma rocha de humanidade sobre a qual o filme pode apoiar sua narrativa e seus malabarismos cômicos. Deadpool é um filme que quer funcionar em dois níveis: primeiro, uma envolvente história de origem que coloca seu protagonista como um homem desesperado que, compreensivelmente, quer vingança pela forma como alguns se aproveitaram desse desespero; segundo, uma enorme zoação conceitual em cima do gênero de super-heróis, da sua retidão moral, da sua “seriedade”. Deadpool tem muito a dizer, mas não quer gritar a plenos pulmões – existe nas entrelinhas, enquanto faz o espectador rir na superfície.
✰✰✰✰ (4/5)
Horas Decisivas (The Finest Hours, EUA, 2016)
Direção: Craig Gillespie
Roteiro: Scott Silver, Paul Tamasy & Eric Johnson
Elenco: Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster, Eric Bana, Holliday Grainger, Rachel Brosnahan
117 minutos
O modelo da celebrada “aventura à moda antiga” não envelheceu bem. Uma série de problemas aparece quando, sob uma perspectiva atual, olhamos para alguns filmes antigos e suas histórias maniqueístas, que pouco apreciavam as mulheres e minorias (quando as incluíam), com morais simplistas demais para o mundo complexo do século XXI. Horas Decisivas de fato carrega aquele sentimento de “aventura à moda antiga”, mas é inteligente o bastante para fugir das armadilhas desse modelo. Primeiro, não reforça nenhuma “moral da história”, a não ser talvez que não devamos julgar alguém por seus métodos pouco convencionais. Segundo, coloca a história das mulheres no particular tempo e espaço em que o filme se passa (uma pequena cidade americana, nos anos 50) como um testemunho de resiliência frente a um mundo que as colocava “para escanteio” enquanto os homens assumiam todas as responsabilidades. Holliday Grainger está conquistadora como a esposa do protagonista (feito por Chris Pine), que se arrisca em um pequeno barco da guarda costeira para resgatar um navio petroleiro que partiu ao meio e só não afundou ainda graças aos esforços de um engenheiro talentoso (Casey Affleck). Como resultado de uma trama que se divide bem entre esses três protagonistas, Horas Decisivas escapa de diversos obstáculos e conquista a simpatia do espectador para além do seu espetáculo visual.
Não levam a mal, no entanto, porque Horas Decisivas é absolutamente impressionante em termos visuais. As cenas em alto mar conseguem passar perfeitamente a escala do desafio que os personagens enfrentam, a absurda violência e hostilidade de uma natureza que o homem insiste em tentar conquistar, mas que continua absolutamente selvagem. O diretor Craig Gillespie trabalha ao lado da equipe de efeitos especiais para manter a humanidade em primeiro plano mesmo nesses momentos em que a contemplação dos perigos naturais enfrentados pelos personagens ataca o espectador. Fascinado pela ótima performance de Chris Pine na pele de um inseguro guarda costeiro que enfrenta ondas gigantescas para resgatar o navio, Gillespie e seu diretor de fotografia mostram o processo de cada decisão tomada por ele, e levam o espectador junto em uma jornada humana e simples que nunca derrapa na demagogia. Produto raro que, mesmo não sendo uma obra-prima, merece ser apreciado.
✰✰✰✰ (3,5/5)
Zootopia (EUA, 2016)
Direção: Byron Howard & Rich Moore
Roteiro: Jared Bush & Phil Johnston
Elenco: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Jenny Slate, Nate Torrence, Bonnie Hunt, Don Lake, Tommy Chong, J.K. Simmons, Octavia Spencer, Alan Tudyk, Shakira
108 minutos
Há um nível de discurso visual e narrativo dentro dos filmes mais recentes da Disney que simplesmente não existia anteriormente, nas aventuras animadas com valores familiares e datados do estúdio. É claro que contos de fada como A Bela Adormecida, Mogli – O Menino Lobo e afins marcaram época e infâncias, mas nenhum deles carregava a complexidade de um Zootopia, mais recente animação em CGI da empresa sem a marca da Pixar. Enquanto Frozen trouxe uma história em que o amor fraternal entre duas mulheres tomava o protagonismo do amor romântico entre um casal heterossexual e Operação Big Hero conversou sobre luto, cultura de violência e amizade, Zootopia é um tratado muito interessante sobre a forma como pré-concepções, estereótipos e preconceitos sobrevivem em uma sociedade que se considera “superior” e “acima” de tais discriminações – como a nossa por vezes diz ser. De formas ao mesmo tempo divertidas e inteligentes, a animação da Disney mostra as formas como essas discriminações funcionam dentro de um ambiente que se coloca como inclusivo, mas mantem essa aparência “evoluída” apenas na superfície – assim como os animais da trama, que começam a voltar aos seus instintos de predadores e presas. Em uma cidade com uma multiplicidade de ecossistemas para acomodar modos de vida e necessidades diferentes, as posições de poder e o equilíbrio social ainda tem privilegiados e oprimidos.
E claro, é importante que a Disney use sua plataforma para passar o tipo de mensagem de superação desses preconceitos. Muitas vezes se subestima o público infantil (como aconteceu com muitos críticos de Divertida Mente), caindo em cima de desenhos animados supostamente dirigidos à crianças por trazerem histórias “complexas demais” ou com pontos “complicados demais”. Zootopia traduz em uma narrativa deliciosa a vontade de dizer que, independente do local, “espécie” ou histórico da família no qual você nasceu, você pode fazer ou ser o que quiser, se quiser o bastante. Não é difícil para uma criança tirar isso da trama, que acompanha uma pequena lebre (Ginnifer Goodwin) se tornando a primeira policial de sua espécie e se envolvendo, com a ajuda de uma raposa trapaceira (Jason Bateman), no caso de desaparecimentos de vários cidadãos de Zootopia, a enorme cidade que abriga uma população cosmopolita de animais no universo do filme.
Byron Howard (Enrolados) e Rich Moore (Detona Ralph) combinam seus talentos na direção para criar personagens e ambientes marcantes para essa história, enquanto Goodwin e Bateman mostram química que poderia facilmente ser traduzida para alguma parceria live-action se os atores quisessem. Exuberante e sutil ao mesmo tempo, Zootopia merece o sucesso esmagador com o qual foi recebido, e adiciona mais um capítulo promissor na nova era de animação da Disney. Falta alguns passos para chegar lá de verdade, mas o estúdio do Mickey esta no caminho certo.
✰✰✰✰ (4/5)
Como Ser Solteira (How to be Single, EUA, 2016)
Direção: Christian Ditter
Roteiro: Abby Kohn, Marc Silverstein & Dana Fox
Elenco: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann, Damon Wayans Jr, Anders Holm, Alison Brie, Nicholas Braun, Jake Lacy, Jason Mantzoukas
110 minutos
Como Ser Solteira não é, exatamente, um bom filme. A direção do alemão Christian Ditter é dada demais à modernidades falsas e irritantes, contando com a ajuda de seu diretor de fotografia de longa data, Christian Rein, para criar um visual pseudo-urbano que quer nos colocar “próximo” dos personagens mas aborda essa intenção de forma superficial, criando uma câmera de tons calorosos e movimentos e enquadramentos “diferentões” que, no final das contas, nada diz ou acrescenta à história. O roteiro do trio Abby Kohn, Marc Silverstein e Dana Fox, baseados no livro de Liz Tuccilo, esbarra em alguns clichês e não consegue fugir de outros, mas o ponto é que, mesmo dentro dessas falhas, o script consegue reafirmar sua originalidade e importância ao contar a história de mulheres solteiras sem martiriza-as, julga-las por suas conquistas românticas ou estereotipa-las. A história da protagonista Alice (Dakota Johnson) após terminar um namoro para “se encontrar” no mundo solteiro com a ajuda de uma nova amiga, a festeira Robin (Rebel Wilson), é a linha condutora da trama no sentido que traz sua tese mais importante: mesmo que estejamos em busca de conexão romântica, ou abertos a uma, é preciso apreciar os momentos em que estamos sozinhos (e solteiros) pelo tanto de vida e autoconhecimento que eles trazem.
Ao mesmo tempo, Como Ser Solteira tira o fardo da relação amorosa como o objetivo final de suas personagens. Quebrando com a tradição centenária das comédias românticas, essas mulheres são muito mais que suas buscas por namorados, e de fato, se não estiverem nem um pouco em busca de namorados (como Robin), não tem problema nenhum. A trama de Meg (Leslie Mann, excelente) tem mais a ver com maternidade do que com romance, enquanto a de Lucy (Alison Brie) discursa mais sobre nossa dependência da tecnologia e as nossas auto-impostas limitações e “regas”. O humor nem sempre funciona às mil maravilhas quando Wilson não está em cena, e a interpretação de Johnson não é nenhuma revelação, mas Como Ser Solteira é um filme importante que empurra para o lado os clichês de jornadas de “auto-conhecimento” que, nas comédias românticas por aí, viram na verdade trajetórias de um relacionamento para o outro. Ao resolver contar a história dos momentos de solteirice de suas protagonistas, o filme encontra uma veia dramática, cômica e narrativa ainda não devidamente explorada.
✰✰✰✰ (3,5/5)
Chappie (EUA/México, 2015)
Direção: Neill Blomkamp
Roteiro: Neill Blomkamp, Terri Tatchell
Elenco: Shalto Copley, Dev Patel, Ninja, Yo-Landi Visser, Jose Pablo Cantillo, Hugh Jackman, Sigourney Weaver
120 minutos
Aqui está o meu motivo para gostar de Neill Blomkamp: o diretor sul-africano, revelado em Distrito 9, nos dá uma razão para sermos realmente engajados em ficção científica. Como um fã do gênero desde que me conheço por gente, é importante para mim ver artistas e espectadores apaixonados pelas possibilidades e pelas mensagens que essas histórias fantasiosas podem representar. Mais do que qualquer outro gênero, é importante fazer da ficção científica um meio para contar histórias relevantes socialmente – olhando para os possíveis futuros e conjecturas humanas, refletir sobre o nosso presente é ainda mais urgente. Criticado por trazer essas discussões e temas em um nível mais elevado do que é capaz de lidar como cineasta, Blomkamp continua sendo, para este que vos fala, alguém que ao menos tenta incutir no gênero alguma profundidade. Em Chappie, seu terceiro filme, o diretor retorna à África do Sul e realiza um épico profundamente conectado ao espírito de crítica social de seu cinema, retratando diferenças de classe e personagens com preconceitos superficiais quanto a modos de vida diferentes dos seus, obsessões egocêntricas e militaristas de grandes empresas e “cientistas” bélicos, e a importância da educação moral para a formação de uma identidade, seja ela artificial ou não. Em certos momentos, Chappie é uma fábula sobre os danos da cultura da violência e da masculinidade venenosa e agressiva que tradicionalmente prezamos – nesses momentos, o filme de Blomkamp encontra um discurso contundente e importante de ser ouvido.
Aqui, o ator-fetiche de Blomkamp, Sharlto Copley, empresta voz e captura de movimentos em performance para lá de carismática para Chappie, o robô do título, um de muitos “sentinelas” robóticos que uma grande empresa bélica comandada por Sigourney Weaver instalou no futuro da África do Sul. O cientista que os criou, Deon Wilson (Dev Patel), tem ambições mais metafísicas: aspira criar uma inteligência artificial completa que tenha o livre arbítrio de se tornar ou não um policial. Quando ele consegue, acaba instalando o novo programa em Chappie, e o androide cai nas mãos dos criminosos em dívida feitos por Ninja e Yo-Landi Visser, da dupla musical Die Antwoord, que pretendem usá-lo para realizar um assalto. Chappie foge do maniqueísmo com determinação, usando de Ninja e Visser, que se mostram intérpretes talentosos, para representar uma oposição yin-yiang entre a cultura da violência e da padronização masculina e a cultura que celebra a diferença e a singularidade de cada inteligência.
Quando tenta argumentar outros pontos, Chappie derrapa um pouco mais, embora tenha sempre o coração no lugar certo. O mesmo vale para a fantasia tramada pelo roteiro de Blomkamp em torno das possibilidades tecnológicas desenvolvidas em seu mundo futurista – em muitos sentidos, o final feliz parece um pouco forçado, e a argumentação sobre os limites da consciência e da vida prática humana um pouco fora de lugar. Mesmo assim, embora tenha seus defeitos, Chappie é obra de um cineasta que realmente se importa com a mídia e o gênero no qual está trabalhando, e isso é mais do que motivo para amá-lo.
✰✰✰✰ (4/5)