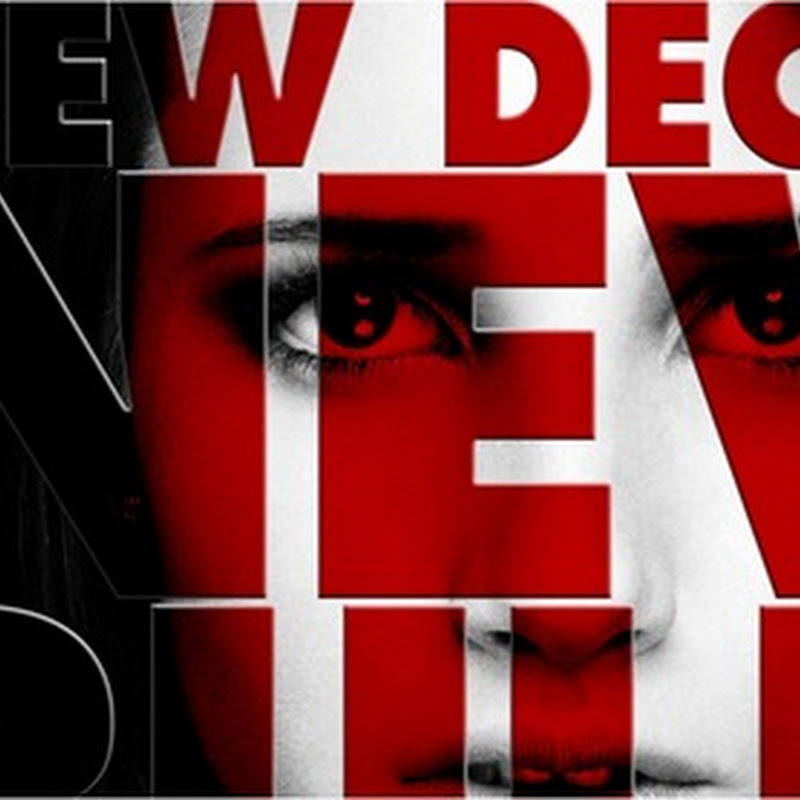por Caio Coletti
Nem todos os filmes merecem (ou pedem) uma análise complexa como a que fazemos com alguns dos lançamentos mais “quentes” ou filmes que descobrimos e nos surpreendem positivamente. É levando em consideração a função da crítica e da resenha como uma orientação do público em relação ao que vai ser visto em determinado filme que eu resolvi criar essa coluna, que visa falar brevemente dos filmes que não ganharam review completo no site. Vamos lá:
Expresso do Amanhã (Snowpiercer, Coréia do Sul/República Tcheca/EUA/França, 2013)
Direção: Joon Ho Bong
Roteiro: Joon Ho Bong, Kelly Masterson, baseados na graphic novel de Jacques Lob, Benjamin LeGrand & Jean-Marc Rochette
Elenco: Chris Evans, Kang-ho Song, Ed Harris, John Hurt, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, Alison Pill, Luke Pasqualino
126 minutos
Celebrado por muitos críticos e entusiastas do cinema como uma das grandes revelações da nova geração, Joon Ho Bong é responsável por filmes díspares mais igualmente elogiados como Memórias de um Assassino (2003), O Hospedeiro (2006) e Mother – A Busca Pela Verdade (2009). O sul coreano de 46 anos experimentou pela primeira vez uma produção internacional com Expresso do Amanhã, adaptação de uma celebrada graphic novel francesa que o diretor tomou para si, criando uma ficção científica das mais plenamente realizadas (visualmente e narrativamente) de uma década que já está repleta delas. Repleto de significado com qualquer boa ficção, Expresso do Amanhã é por vezes dolorosamente cínico em sua concepção de humanidade, toca sem medo em temas como a estrutura social que precisa da opressão de alguns para a bonança de outros, o egocentrismo humano, a fácil doutrinação de mentes fracas, a dificuldade e a nobreza do auto-sacrifício. É um filme ácido, violento, cinético e explosivo, com um visual matador provido pelo diretor Bong em parceria com o seu diretor de fotografia habitual, Kyung-pyo Hong – é notável observar a mudança de tons durante o filme, a exploração do escuro e do monocromático no início e a explosão de sensações do meio para o final, uma transição bem marcada pela espetacular cena de ação iluminada à tochas que acontece em certo ponto do filme.
A caracterização dos personagens também é perfeita, aproveitando o pouco tempo que passamos com alguns para lhes dar alguns traços marcantes e desenvolvê-los sem muito alarde em pessoas completamente tridimensionais. Entregando um monólogo matador (é sério!) perto do final, Chris Evans prova que é mais que o Capitão América do MCU como Curtis, o relutante líder dos moradores “do fundo” de um trem pós-apocalíptico cujo “motor eterno” abriga o restante da humanidade do frio impossível da Terra destruída do lado de fora. Indignados com a opressão das classes mais altas, que ficam “na frente” do trem, próximas ao gabinete do mítico inventor e mantenedor do tal motor, Wilford, Curtis e companhia se rebelam, começando uma epopeia “trem acima” com um ataque surpresa. Tilda Swinton está especialmente espetacular como uma bizarramente caracterizada burocrata da classe alta, e os coreanos Kang-ho Song e Ah-sung Ko deixam marcas permanentes na memória do espectador também.
Feito com o cuidado aos detalhes que falta a muitos cineastas mais experientes que Bong, Expresso do Amanhã é um conto extraordinariamente verdadeiro com suas próprias ambições e realizações, uma história tremendamente bem contada que surpreende, satisfaz e faz pensar desde o primeiro minuto. É um filme que precisa ser assistido.
✰✰✰✰ (4/5)
Evereste (Everest, Inglaterra/EUA/Islândia, 2015)
Direção: Baltasar Kormákur
Roteiro: William Nicholson, Simon Beaufoy
Elenco: Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawkes, Robin Wright, Emily Watson, Sam Worthington, Jake Gyllenhaal, Michael Kelly, Keira Knightley
121 minutos
Ao contrário da maioria dos filmes sobre escaladas de grandes montanhas como o Evereste, o K2 ou o Aconcágua, o filme do ano passado, diretamente intitulado Evereste, não tenta glamourizar a experiência ou a aspiração que move esses homens a tentarem um feito que simplesmente não é desenhado para ser suportado pelo corpo humano. Essa é a grande novidade que o diretor Baltasar Kormákur (Contrabando) e os roteiristas William Nicholson (Os Miseráveis) e Simon Beaufoy (127 Horas) trazem para a mesa, uma experiência mais realista e detalhada das dificuldades de escalar um pico de 8.848 metros e sair vivo da experiência. Baseado na experiência real de uma série de aspirantes a escaladores que não chegou inteira de volta à superfície, Evereste é uma aventura de dificuldade e minúcia impressionantes, mas sua direção não se esforça para nos mostrar de forma sensorial a agonia de seus personagens, ou nos investir muito na história deles. Alguns dos tipos que conhecemos são Rob (Jason Clarke, em atuação tão indiferente quanto a que entregou em Exterminador: Gênesis), o líder da expedição, cuja esposa (Keira Knightley) o está esperando em casa grávida; Doug (John Hawkes), um humilde carteiro cujas expedições são financiadas por uma escola perto de onde mora, a fim de que ele mostre as crianças que “é possível chegar em qualquer lugar”; Beck (Josh Brolin, tipicamente detestável), um tipo bem americano que está de briga com a esposa (Robin Wright) por ter marcado a viagem sem seu consentimento. Curiosamente, a história pela qual eu me senti mais envolvido foi a de Yasuko (Naoko Mori), que quer chegar ao pico do Evereste para se tornar a primeira mulher a escalar todos as setes grandes montanhas do mundo.
Sim, Jake Gyllenhaal faz uma pequena participação como o líder de uma expedição “rival” a de Rob, mas o papel não faz bom uso de seus talentos (nem físicos nem artísticos, inclusive); e sim, Emily Watson está tipicamente adorável como a assistente de Rob, que fica no acampamento dando instruções e vigiando a meteorologia enquanto os escaladores partem para o cume. Um elenco majoritariamente eficiente de coadjuvantes e o já citado realismo da história contada servem para trazer um olhar diferente e interessante sobre essa aventura que desafia a boa lógica de qualquer ser humano, mas ainda assim parece fazer o nosso sangue correr mais quente e a nossa ambição pela grandeza despertar. De forma alguma Evereste é um filme idealista, mas Nicholson e Beaufoy o fazem um filme compreensivo, ainda que inclemente ao mostrar o destino dos que ousam desafiar a natureza. Além disso, no entanto, há muito pouco para se ver aqui.
✰✰✰✰ (3,5/5)
 Irmãs (Sisters, EUA, 2015)
Irmãs (Sisters, EUA, 2015)
Direção: Jason More
Roteiro: Paula Pell
Elenco: Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph, Ike Berinholtz, James Brolin, Dianne Wiest, John Cena, John Leguizamo, Bobby Moynihan, Greta Lee, Madison Davenport, Rachel Dratch
118 minutos
Não é novidade para ninguém que, embora já sejam provavelmente duas das pessoas mais engraçadas da comédia americana no momento separadas, Tina Fey e Amy Poehler só se potencializam quando estão juntas. O espetacular período em que apresentaram o Globo de Ouro juntas, mais o charmoso Uma Mãe Para o Meu Bebê, uma gema escondida de 2008, são mais que provas disso. Com um roteiro de Paula Pell, uma das mais prolíficas e mais talentosas escritoras do Saturday Night Live, em mãos, elas atingem mais um pico de diversão e storytelling em Irmãs, comédia de título auto-explicativo em que as duas interpretam Maura e Kate Ellis, que retornam para a casa dos pais quando eles anunciam que estão prestes a vendê-la para “limpar” o quarto onde passaram a adolescência juntas, e decidem dar uma última (e épica) festa para se despedir do lugar. Parte da graça aqui é que Tina e Amy invertem personas cômicas: dessa vez, a estrela de 30 Rock interpreta a mais “soltinha” da dupla, que teve uma adolescência cheia de aventuras sexuais e agora se vê em apuros financeiros quando é despedida do trabalho; enquanto isso, a protagonista de Parks and Recreation faz a irmã responsável, que acaba de sair de um divórcio e ainda não se colocou de volta no mundo da solteirice, e que teve uma juventude mais. digamos, enclausurada. A cumplicidade entre as atrizes é o que permite que elas exercitem esse alcance cômico com mais conforto, e isso trabalha em favor de Irmãs. uma comédia com boas intenções e uma sucessão e velocidade de piadas que pode não ser tão alucinante quanto muita gente gostaria, mas é eficiente e funciona junto com a trama, ao invés de contra ela.
O leque de personagens que se reúne em torno da festa dada pelas irmãs Ellis é o mais entertaining possível, encarnados por atores que ou já deram muitas provas de suas habilidades cômicas ou estão mais do que aptos a entrar na brincadeira: John Leguizamo interpreta um abusado ex-conquistador que é apaixonado por Kate; Bobby Moynihan protagoniza momentos tão constrangedores quanto hilários na pele do piadista irritante desesperado por atenção; Dianne Wiest e James Brolin estão sensacionais como os pais de Kate e Maura, que não veem a hora de se livrar da casa e aproveitar a vida; Maya Rudolph ganha o prêmio de coadjuvante mais valiosa como a ex colega-de-classe que Kate costumava odiar e que até hoje tem seu fiel grupinho de amigas “populares’; e, claro, John Cena está mais do que disposto a emprestar seus talentos (majoritariamente físicos) para o papel do traficante de drogas que as irmãs chamam para a festa inadvertidamente.
Irmãs tem uma reunião de pessoas tremendamente engraçadas, mas o que faz o filme decolar de verdade é que o roteiro de Pell, em sua estreia no cinema, mantem essas protagonistas grudadas na realidade da situação delas, dos pais, e de cada um dos personagens que as cercam. Enquanto tira uma com o desespero por juventude e pelo retorno dos “bons tempos” que muitos adultos exasperados com as suas próprias vidas carregam, Pell parece também estar criando um conto de celebração que cuidadosamente nos mostra que partes desse culto à juventude desenfreado podemos (ou devemos) absorver. Não queremos dizer que Irmãs é um “filme importante”, mas não machuca assisti-lo, e ele ainda vai te manter tremendamente entretido por quase duas horas. Taí algo que não falamos sobre muitas comédias dos últimos anos.
✰✰✰✰ (4/5)
 Horas de Desespero (No Escape, EUA, 2015)
Horas de Desespero (No Escape, EUA, 2015)
Direção: John Erick Dowdle
Roteiro: John Erick Dowdle, Drew Dowdle
Elenco: Owen Wilson, Lake Bell, Sterling Jerins, Claire Geare, Pierce Brosnan, Sahajak Boonthanakit
103 minutos
Há algum talento envolvido na confecção de Horas de Desespero, um thriller em que uma família recém-mudada para um país não nomeado do Sudoeste da Ásia se vê perseguido por radicais políticos que pretendem matar todos os americanos vivendo na nação após tomarem o poder com um golpe de Estado. No entanto, como você pode ter adivinhado pela sinopse, essa história de sobrevivência inspirada por eventos ocorridos na Tailândia assume o ponto de vista da família ianque e a partir daí assume que qualquer estrangeiro é uma ameaça. Desprovido de qualquer nuance política ou consciência social, Horas de Desespero caracteriza os asiáticos que cercam a família Dwyer como ameaças ou, na melhor das hipóteses, curiosidades étnicas para durar uma cena (como os frequentadores de um bar karaokê no comecinho) ou vários minutos (como o motorista camarada fã de Kenny Rogers). Em certo momento há um breve discurso sobre como o governo americano explora os recursos hídricos e a mão-de-obra barata daquele país, causando em grande parte uma piora na pobreza dessa gente, mas a conversa entra por um ouvido e sai pelo outro, porque Horas de Desespero se recusa a sentir empatia por muito tempo por alguém que não seja a família principal ou o agente britânico (Pierce Brosnan) que os salva uma mão cheia de vezes.
Vamos falar um pouquinho, no entanto, sobre os tais talentos envolvido no filme: o diretor John Erick Dowdle, responsável por filmes díspares como Quarentena, Demônio e Assim na Terra como no Inferno, sai do gênero do terror pela primeira vez, mas carrega consigo a impressionante capacidade de causar tensão e olhar para a brutalidade e perigo com a urgência que é necessária a esses sentimentos. O problema é que, se reunindo ao irmão Drew Dowdle no roteiro, ele faz de Horas de Desespero um exercício de tensão tão enervante quanto são os constantes equívocos no retrato dos estrangeiros e até da única mulher da trama, a esposa do executivo vivido por Owen Wilson. Ambos Wilson e Lake Bell, que interpreta a moça, emprestam garra e desespero a seus personagens, mas não são capazes de transcender uma história rasa, preconceituosa, que passa muito mais perto de Busca Implacável do que deveria, e que some da cabeça do espectador assim que os créditos sobem. Uma situação política complicada como essa merecia um filme melhor.
✰✰ (2/5)
 No Coração do Mar (In the Heart of the Sea, EUA/Austrália/Espanha/Inglaterra/Canadá, 2015)
No Coração do Mar (In the Heart of the Sea, EUA/Austrália/Espanha/Inglaterra/Canadá, 2015)
Direção: Ron Howard
Roteiro: Charles Leavitt, baseado no livro de Nathaniel Philbrick
Elenco: Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Brendan Gleeson, Ben Whishaw, Michelle Fairley, Tom Holland, Frank Dillane
122 minutos
Há uma pureza em No Coração do Mar que raramente se vê nos grandes filmes de efeitos especiais da Hollywood de hoje, mas que sobrevive, de certa forma, nos melhores filmes de Ron Howard. O diretor americano, que tem um Oscar na prateleira por Uma Mente Brilhante, é sob certa ótica um formalista consumado, que usa e abusa de técnicas clássicas e que não toca nas modernosas decisões criativas de um Alejandro González Iñárritu, por exemplo. Ao mesmo tempo, seus filmes, quando acertados, vibram com a antiquada vontade de contar uma história da forma mais simples e mais eficiente possível, alinhando uma construção climática do cenário sempre muito palpável com uma ótima direção de atores e um senso narrativo que coloca o ponto e as reflexões da trama acima da técnica, e nos absorve para dentro do filme com facilidade. Foi o que aconteceu com Frost/Nixon (2008) e com Rush: No Limite da Emoção (2013), esse último também estrelado pelo protagonista de No Coração do Mar, o australiano Chris Hemsworth, conhecido como o Thor da franquia da Marvel. Aqui, Hemsworth interpreta Owen Chase, um filho de fazendeiro que conseguiu se infiltrar no mundo elitista dos baleeiros da Nova Inglaterra, nos EUA do século XIX. Ele parte com o esnobe capitão Pollard (Benjamin Walker) a bordo do Essex em busca de mais óleo de baleia, acompanhado por uma tripulação de tipos bem diversos, incluindo o novato Nickerson (Tom Holland, o futuro Homem-Aranha) e o veterano Joy (Cillian Murphy, o antigo Espantalho), até que os marinheiros se encontram com o monstro marinho em forma de baleia que ataca viciosamente o navio ao tentar impedir que ele cace os animais em seu território.
Essa é a história supostamente real que teria inspirado Moby Dick, o clássico livro de Herman Melville, que aparece aqui encarnado por Ben Whishaw enquanto troca histórias com um envelhecido Nickerson (Brendan Gleeson) a fim de descobrir o que realmente aconteceu com o Essex. Howard monta essa entrevista entre os dois homens, que poderia ter passado como um recurso narrativo supérfluo, para se parecer com uma confissão atormentada de um velho com memórias reprimidas, e Gleeson brilha, como de costume, ao ir retirando as camadas do seu Nickerson e o aproximando do jovem que Holland interpreta com tanta energia nas porções do filme passadas no passado. Os dois intérpretes desse personagem são o destaque do elenco, mas Cillian Murphy, Michelle Fairley, Benjamin Walker e Frank Dillane entregam trabalhos sólidos e marcantes mesmo com pouco tempo em tela, em grande parte porque o roteiro de Charles Leavitt (Diamante de Sangue) desenha esses personagens com linhas tão definidas e precisas.
No Coração do Mar é um conto sobre como o homem muitas vezes confunde necessidade com ganância, e sobre aquele velho clichê da arrogância humana em se achar domador e dominador da natureza. Da forma como está escrito, o filme coloca a enorme baleia encontrada pelos homens do Essex quase como uma materialização de um karma, e embora Howard nos leve junto com esses personagens em uma jornada de tirar o fôlego de sobrevivência, o grande arco de No Coração do Mar é ético, seja na evolução do personagem de Hemsworth (que, como ator, continua sendo um ótimo Thor – mas tem se esforçado cada vez mais ultimamente) ou nos dois momentos distintos em que vemos Nickerson, e no marcado amadurecimento (e envelhecimento) que os separam. Em seu filme mais recente, Ron Howard só quer nos contar uma história, e isso pode ser refrescante em uma Hollywood, e uma temporada de premiações, que cada vez mais coloca técnica sobre substância.
✰✰✰✰✰ (4,5/5)
Star Wars: O Despertar da Força (Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, EUA, 2015)
Direção: J.J. Abrams
Roteiro: Lawrence Kasdan, J.J. Abrams, Michard Arndt
Elenco: Harrison Ford, Mark Hammill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupina Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Max Von Sydow, Gwendoline Christie
135 minutos
No seu coração, Star Wars sempre foi uma novela pulp de ficção científica, como o herói dos quadrinhos Flash Gordon ou os livros de Edgar Rice Borroughs, o homem que concebeu Conan, Tarzan e John Carter. Os primeiros três filmes de George Lucas, feitos entre 1977 e 1983 e amados por uma multiplicidade de gerações, tiram seu duradouro charme da vontade de serem descaradamente óperas espaciais influenciadas pelo gosto de seu autor/diretor por serials televisivos e westerns. Quando Lucas voltou a franquia, no entanto, em 1999, o gigantesco e sufocante sucesso de sua criação e de tudo o que derivou dela fez do diretor uma criatura mais cínica, e os três filmes lançados entre 1999 e 2005 são mais sombrios e complexos por conta disso – cheios de estratagemas políticos e subtextos morais, carregados de uma noção de destino e karma que é inevitavelmente obscura, e contando a queda do inocente e idealista Anakin Skywalker, que se transformou em Darth Vader. Não são filmes tão ruins quanto muitos fãs parecem achar, vale dizer, mas são obras fundamentalmente falhas e imensamente menos divertidas que os filmes originais, ou que esse O Despertar da Força, que trouxe a franquia de volta à vida sob o comando de J.J. Abrams, que já havia revitalizado Star Trek em 2009.
Abrams faz seu filme como uma carta de amor ao espírito kitsch (mas levado à sério) que guiou o Guerra nas Estrelas de 1977, hoje chamado de Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança. Ao invés de tomar o caminho da segunda trilogia, que contou o que aconteceu antes do que assistimos no primeiro filme, O Despertar da Força nos transporta 30 anos para o futuro depois do final de O Retorno de Jedi (1983) e nos reapresenta velhos personagens e seus destinos enquanto coloca novos heróis e vilões conectados invariavelmente ao passado da saga de alguma forma. Simplificando a política, Abrams e os companheiros de roteiro Lawrence Kasdan (que escreveu parte da trilogia original) e Micharl Arndt (Toy Story 3) colocam mais uma vez uma parte da galáxia tendo que lutar contra os desmandos de um poder autoritário em forma de rebelião, e uma insuspeita moradora de um planeta em que ninguém presta muita atenção revelando poderes extraordinários da Força e se tornando a esperança dos Jedi.
Tudo poderia parecer familiar demais, apesar da nostalgia criada pelo retorno de Harrison Ford como Han Solo (em uma atuação extraordinária, há de se dizer) e de Carrie Fisher como a agora General Leia. Em certo momento de O Despertar da Força, parece que as partes estreladas pelos dois veteranos da franquia serão as melhores do filme, mas aos poucos Abrams vai construindo seus novos heróis Poe Dameron (Oscar Isaac), Rey (Daisy Ridley) e Finn (John Boyega) e articulando um tema que é muito caro a toda a sua filmografia: a forma como fugimos ou abraçamos as nossas responsabilidades e os nossos deveres morais. Esse dilema está em Finn, um ex-Stormtrooper cujo primeiro instinto é simplesmente ir para o mais longe possível, e não ficar e lutar; está no arco de Solo, Leia e seu filho Kylo Ren (Adam Driver), o vilão da trama, e na forma como um trauma do passado afastou o casal, fugindo dos sentimentos levantados por esse fatídico acontecimento, e levou o filho ainda mais longe para o caminho do lado negro da Força; e está, de forma menor, nas jornadas de cada um dos outros personagens. Em suma, então, O Despertar da Força é o melhor de dois mundos: o bom e velho Star Wars com uma nova mensagem para passar.
✰✰✰✰✰ (4,5/5)