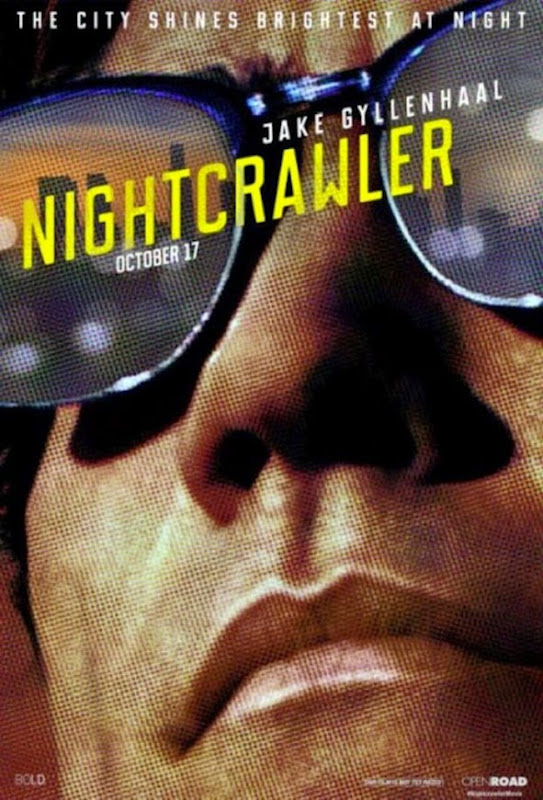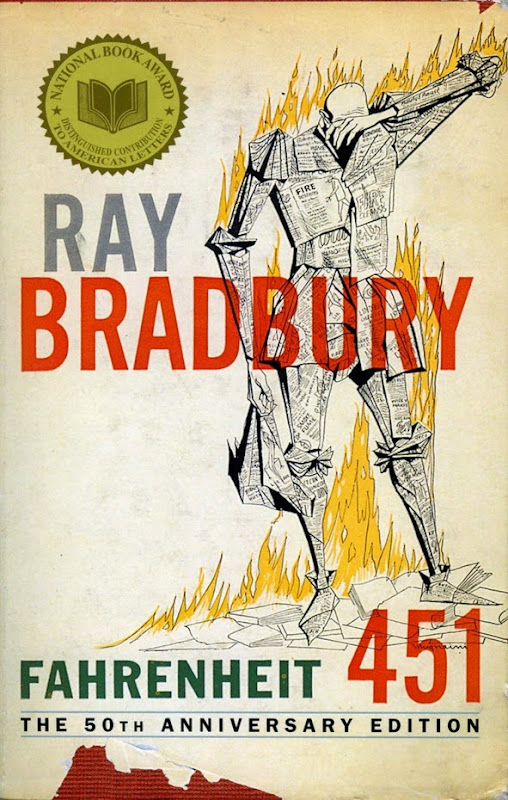por Caio Coletti
Se você perdeu a oportunidade de ir ao cinema e está se perguntando há uns bons meses o que possivelmente poderia haver de tão perturbador em Garota Exemplar, aqui está a sua resposta: o novo filme de David Fincher é uma história de amor. E de certa forma, ele o é de uma maneira bem clássica – o roteiro de Gillian Flynn, que adapta seu próprio best-seller, retrata as circunstâncias extraordinárias que fazem o casal principal, antes tentando salvar um relacionamento em ruinas, se mostrar de verdade um para o outro pela primeira vez na vida, sem encenações ou mentiras. Garota Exemplar não é um tomo idealista sobre a força do amor, no entanto: é um cruel estudo sobre as dissimulações que vendemos para as pessoas ao nosso redor, sobre o local profundamente enterrado na nossa consciência em que escondemos a verdade sobre nós mesmos, e as diferentes mentiras que contamos para quem nos cerca. Fincher e Gillian Flynn olham para isso tudo e declaram categoricamente que essa sátira corrosiva de humanidade é o que convencionamos chamar de amor. Perturbador o bastante pra você?
É preciso dizer que ninguém executaria um filme como esse tão bem quanto Fincher. O ex-diretor de videoclipes, eterno injustiçado do Oscar e autor de algumas das maiores pérolas do cinema contemporâneo (de Clube da Luta a A Rede Social) funciona como uma máquina. O trabalho de câmera realizado com o diretor de fotografia (e parceiro de longa data) Jeff Cronenweth enquadra a cidade minúscula em que o casal Dunne vive com a exatidão de um procedural televisivo, trabalhando com a edição ágil de Kirk Baxter e a trilha-sonora climática de Trent Reznor e Atticus Ross (vencedores do Oscar por A Rede Social) para criar a impressão de um thriller doméstico-sexual daqueles dos anos 80, na melhor tradição de Brian DePalma. Ao mesmo tempo, Fincher trabalha a favor do roteiro na direção dos atores e da encenação, ajudando Flynn no processo de se manter sempre um passo a frente do espectador, perpetuando entre nós (plateia) e eles (autores) o mesmo perverso jogo de gato e rato que se desenrola entre Amy e Nick. Muita gente se refere a Fincher como um cineasta pouco envolvido emocionalmente com seus filmes – mas é flagrante, pelo menos para este que vos fala, a sensibilidade do americano ao lidar com a natureza da história que tem em mãos.
Graças à delicadeza de Fincher por trás das câmeras, Garota Exemplar é um passeio de montanha-russa tanto quanto é uma sombria sátira social, e uma seríssima observação da natureza humana. Para não estragar detalhes da história, que tem mais reviravoltas do que se pode contar, basta dizer que Amy (Rosamund Pike) desaparece misteriosamente da luxuosa casa que divide com o marido Nick (Ben Affleck), no dia do aniversário de 5 anos de casamento dos dois. Enquanto a busca pela moça mobiliza toda a pequena cidade do Missouri, descobrimos pelo diário de Amy o histórico do relacionamento, desde o dia em que os dois se conheceram em Nova York até os problemas monetários e a doença da mãe de Nick, que os trouxeram de volta à cidade natal do moço, e aos anos mais sombrios desse casamento. Há algo de “novelizado” nessa história contada em voice-over pela personagem de Rosamund Pike, no entanto, e Garota Exemplar nunca nos dá motivos suficientes para confiar em qualquer um de seus protagonistas. Seja atuando para as câmeras de TV, para ex-namorados, ou para os próprios irmãos, eles são tão caricatos em seus traços maquiavélicos quanto são humanos.
Affleck e Pike ajudam muito nesse sentido, é claro. Ele arquiva uma de suas atuações mais sutis e bem-pensadas até hoje, se despindo do carisma de astro de Hollywood para criar um Nick exasperadamente ingênuo na primeira hora de filme, um paradigma perfeito do bom-mocismo americano, ao mesmo tempo em que trata de colocar nas dicas mais miúdas, no fundo dos olhos do personagem, o enorme egocentrismo de que ele é capaz. Pike é ainda mais eficiente nesse sentido, escondendo a Amy controladora por trás da fachada de garota perfeita, esposa perfeita, profissional perfeita. Há algo de superlativo na forma como ela retrata o raciocínio que guia os atos da personagem, e essa é definitivamente a performance que vai alçá-la ao lugar que sempre foi seu no Olimpo das grandes atrizes de sua geração. Talvez pela eficiência de seus protagonistas, Fincher trabalhe com tanto afinco nos coadjuvantes: bem guiados, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Patrick Fugit e Carrie Coon, entre outros, entregam performances desafiadoras.
Garota Exemplar não está acima de trapacear e manipular o espectador para que ele caia nas suas muitas armadilhas e se veja surpreendido por uma de suas reviravoltas. Pelo contrário, tira um prazer quase sádico em nos mostrar não conhecemos de verdade esses personagens – há de se argumentar que esse joguinho cruel com o espectador é parte da própria premissa do filme. Há algo de metalinguístico na forma como Flynn estrutura sua trama de místério, dialogando com clichês do gênero e inserindo narrativas dentro de narrativas para montar seu plot (o diário, a “caça ao tesouro”, a investigação policial, o circo da mídia – todos eles funcionam como linhas independentes que se cruzam numa história só). Nas mãos de Fincher, essa história é uma friamente calculada teia de mentiras, mas também uma angustiante realização das entranhas mais feias da intimidade conjugal, e da solidão essencial que existe em guardar as verdades mais sujas dentro de nossas próprias mentes.
✰✰✰✰✰ (5/5)
Garota Exemplar (Gone Girl, EUA, 2014)
Direção: David Fincher
Roteiro: Gillian Flynn, baseada na novela de sua autoria
Elenco: Ben Aflleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon, Kim Dickens, Patrick Fugit, Missi Pyle, Emily Ratajkowski, Sela Ward
149 minutos