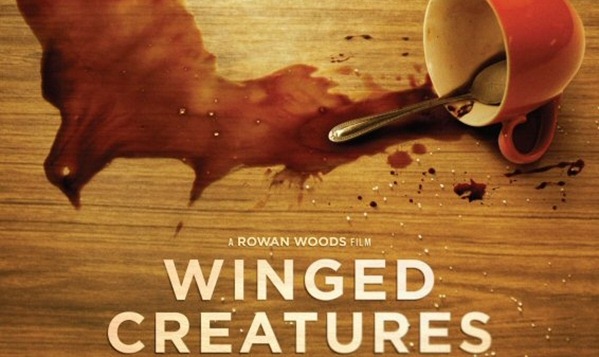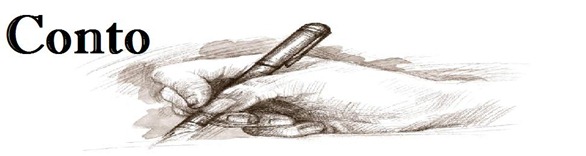*** (3,5/5)
Nos últimos seis anos, Rihanna foi de tudo no mundo pop. E, com uma mão cheia de álbuns, a barbadiana de 23 anos conseguiu a proeza de nunca se repetir. O Music of The Sun veio carregado de influências do island pop que faz a cabeça dos jovens de sua terra natal. O Girl Like Me foi o primeiro passo de Rihanna em direção ao sucesso em terras ianques. Good Girl Gone Bad, por sua vez, consolidou a posição da cantora como estrela pop e produziu meia dúzia de grande hits, incluindo “Umbrella”, dona do verso sem sentido mais célebre do nosso século (“ella, ella, eh, eh, eh”, alguém?). Com o caso de violência envolvendo Chris Brown nas costas, Rihanna partiu, no Rated R, sua melhor gravação até hoje, para buscar o prestígio artístico com um som mais experimental e temas mais sombrios. Que se registre, aliás: o álbum de 2009 que produziu os hits “Roussian Roulette” e “Rudeboy” ainda é o melhor da cantora barbadiana, mas trata-se de uma inferência muito pessoal. Porque, com seu som upbeat, os vocais mais desenvoltos da carreira de Rihanna e pancadões sexy, Loud deve agradar bem mais o ouvinte casual. Isso sem deixar de ser uma obra pop de primeira, e o trabalho de genuíno de uma sensibilidade pop notável.
Não deixou de ser um choque quando Only Girl (In The World) (Faixa 5) surgiu nas rádios como o primeiro single do novo álbum da cantora. Trata-se de um hit clubber por excelência, carregado nas costas por Rihanna, no topo do seu jogo vocal, especialmente na apoteose do refrão, marcada pela linha de sintetizadores do produtor StarGate, que é para ser rivalizada apenas por Lady Gaga. Enfim, enquanto a cantora clama pela atenção do seu amante, você pode muito bem ficar sob a impressão que Rihanna é mesmo a única garota do mundo. Concebida de maneira quase simétrica, o futuro terceiro hit do álbum, S&M (Faixa 1) não tem tanta sorte. Com sua letra sado-masoquista sobre como “correntes e chicotes” são capazes provocar excitação, “S&M” é eurodance até a alma, e tem a interpretação no limite de Rihanna a seu favor, mas ao mesmo tempo mostra-se uma faixa medida e calculada demais para um álbum cuja “fluidez” e “autenticidade” foram exaltadas.
Fechando o ciclo de singles do Loud até agora, What’s My Name (Faixa 2) é a canção do álbum que mais confia e mais depende do timbre e da garra de Rihanna para segurar uma composição pop vintage e sem novidades. Como a crítica bem assinalou, trata-se de uma versão soft de “Rudeboy”, e não há realmente muito para o convidado Drake fazer. Ainda bem, porque Rihanna mostra nesse Loud que domina seu território vocal melhor do que nunca. Complicated (Faixa 9) que o diga, a balada de notas longas que exalta o que pode muito bem ser a melhor performance da barbadiana até hoje. E é uma canção atípica para Rihanna, diga-se de passagem, uma peça que combina a verve romântica de canções como “Take a Bow” com a tendência dance que permeia todo o Loud, ou ao menos uma boa parte dele. A segunda de duas baladas é California King Bed (Faixa 6), uma investida da cantora em um território um pouco mais difuso, entre o rock e o pop, com direito a solos de guitarra, interpretação emocionada e nem sinal de R&B. E ela se sai admiravelmente bem.
É assim, por se dizer, que Loud encontra-se com sua melhor qualidade: é um álbum pop da forma como um álbum pop deve ser, ou seja, escapa de todos os rótulos exatamente por mexer em todos eles e misturá-los em uma solução saborosa. Rihanna se arrisca no reggae de Man Down (Faixa 7), um breve retorno a obsessão por batidas quebradas e combinação de referências que resumem bem as conquistas do Rated R. Sampleia Avril Lavigne na deliciosa ode as festas de Cheers (Drink to That) (Faixa 3), toda levada por piano, percussão e o estranhamente agradável monotom que a cantora usa em alguns de seus melhores momentos. Só erra mesmo quando volta as baladas R&B básicas com Fading (Faixa 4), uma canção esquecível em sua essência, e quando se arrisca no rap, tendo a cena roubada por Nicki Minaj na colagem de Beyoncé Raining Men (Faixa 8).
Enfim, quando os últimos acordes da sexy a toda prova Skin (Faixa 10) silenciam e o Loud parte para seu encerramento “especial” com Love The Way You Lie (Pt. II) (Faixa 11), uma bela canção, mas muito mais trabalho de Eminem do que de Rihanna, a impressão é que o Loud pode muito bem ser a obra mais autêntica e verdadeira da cantora e camaleoa barbadiana. Pode ser que, numa avaliação crítica, o Rated R ainda saia por cima, mas se sensibilidade pop é usar de influências e referências para criar uma obra essencialmente particular sem deixar de ser popular, então Rihanna amadureceu, mesmo, foi com Loud. E é um prazer ouví-la assim.
“…Cheers to the fricken’ weekend/ I drink to that, yeah yeah/ OH let the Jameson sink it/ I drink to that, yeah yeah/ Don’t let the bastards get you down/ Turn it around with another round/ There’s a party at the bar…
Everybody put your glasses up and I drink to that!”
(Rihanna em “Cheers (Drink to That)”)














 É mais uma vez uma honra para o Anagrama anunciar que ganhamos o prêmio do blog
É mais uma vez uma honra para o Anagrama anunciar que ganhamos o prêmio do blog