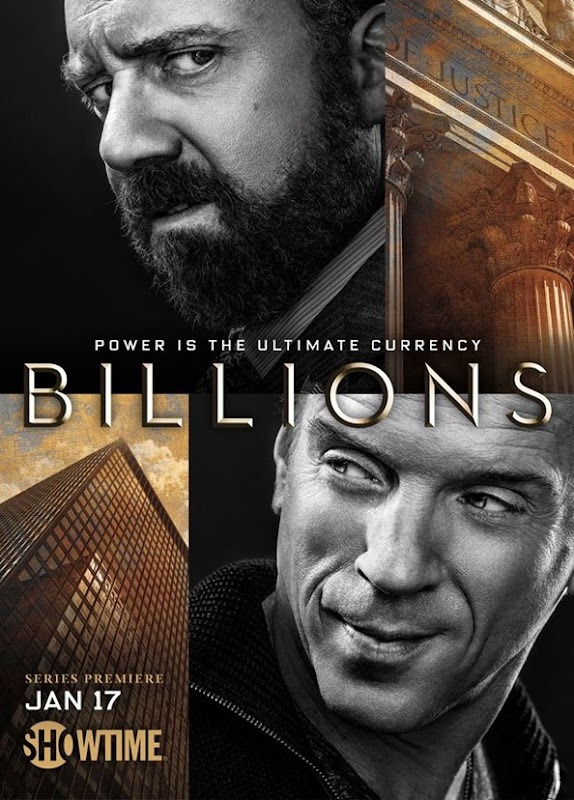por Caio Coletti
Peak TV é o termo usado pelos críticos americanos para definir o momento em que vivemos na produção de televisão. Com um número sem precedentes de produções originais no ar, as emissoras, serviços de streaming e produtoras independentes de TV pelo mundo inteiro oferecem uma abundância de séries de qualidade, que nenhum ser humano conseguiria acompanhar. Eu sou só um, e por isso, a lista que você vai encontrar abaixo e indiscutivelmente incompleta, mas também esforçadamente compreensiva. Aqui vão as 15 melhores séries de 2016, de acordo com este humilde seriador.
15. Bates Motel (4ª temporada) – A&E
A evolução de Bates Motel foi uma das trajetórias mais incríveis que já tive o prazer de acompanhar nos meus anos de TV. De um suspense bobo com tramas secundárias sem sentido na primeira temporada, a série cresceu para se tornar uma tragédia grega cruel e psicologicamente enredada nos anos seguintes, atingindo seu ápice na 4ª (e penúltima) temporada, onde a construção de personagem de Norman e Norma Bates chegou a uma quase-conclusão lógica do arco desenhado para ambos. Vera Farmiga continuou maior-que-a-vida como Norma, mas a temporada foi mesmo de Freddie Highmore, que equilibrou a frieza calculada de um Norman amadurecido com seus ainda juvenis atos impulsivos para compor o mais brilhante e trágico retrato do amadurecimento humano na TV no momento.
14. The Path (1ª temporada) – Hulu
O trabalho de um contador de histórias é, essencialmente, “recortar as pontas” de um universo ficcional de possibilidades ilimitadas e encontrar uma linha narrativa que revele e provoque o espectador de maneiras instigantes, tocantes ou inesperadas. Sob essa métrica, Jessica Goldberg, a criadora e showrunner de The Path, da Hulu, é uma mestre de seu ofício – a série aborda um tema cheio de potencial, investigando as entranhas de um culto religioso que está em um momento crucial de sua história, mas não cai em todos os chavões que já esperamos de uma obra “crítica” à religião organizada. Pelo contrário, se torna um excepcionalmente escrito e atuado, além de incrivelmente sutil, estudo de personagem. Uma série que, no fundo, só quer entender o que faz sentido para cada um dos seres humanos que coloca na tela.
13. This is Us (1ª temporada) – NBC
Nossa primeira (de apenas duas) séries de TV aberta americana, This is Us surpreendeu todo mundo com um piloto que reestabelecia o recurso do plot twist como essencialmente emocional, e estabelecia personagens exemplarmente diversos e completamente envolventes. Com um elenco espetacular de atores que precisavam de uma oportunidade para se provar (e conseguiram), This is Us reestabelece o prazer de uma história bem contada e expõe as rachaduras e prazeres da vida em família, dos erros e modulações, ressentimentos e paixões, que vão se cristalizando com o tempo. Ainda em seu 10º episódio, a série ainda tem muito a mostrar – e, com certeza, muitas posições a subir nessa lista.
12. Person of Interest (5ª temporada) – CBS
Os episódios finais de Person of Interest definitivamente deixaram o legado da série, um conto inteligente não só sobre o estado de vigilância e suas ambiguidades, mas também sobre a importância da conexão humana em pleno século XXI. Com uma leva final acima da média de episódios e a ajuda de performances incríveis de Michael Emerson, Sarah Shahi e Amy Acker, a série chegou a um final ainda prematuro da forma como só ela conseguiria: personalíssima, agridoce e muito mais relevante do que sua audiência poderia denotar.
11. House of Cards (4ª temporada) – Netflix
A 4ª temporada de House of Cards é também a sua mais aterrorizantemente premonitória. Nas mãos de Claire e Frank Underwood, os EUA estão tão seguros quanto nas mãos de Donald Trump – mesmo com lançamento no comecinho do ano, quando a eleição americana ainda parecia distante, a temporada encontra uma reflexão política fascinante nas estratégias de governo e popularidade dos dois protagonistas, enquanto nos empurra mais fundo ainda para suas psiques, expandindo seu relacionamento complicado e os jogos de poder que fazem um com o outro. Spacey e Wright estão excepcionais como sempre, e a série parece finalmente ter se elevado ao nível deles.
10. Girls (5ª temporada) – HBO
Girls é uma obra-prima. É falha, cheia de vícios e idiossincrasias irritantes, personagens que não seguem um padrão dramático de evolução convencional, e infundida dos mesmos preconceitos involuntários de sua criadora e estrela, Lena Dunham. Por ser corajosamente tudo isso, e encontrar uma espécie de realidade fantástica onde pode expressar coisas como a prisão da personalidade e o árduo trabalho do amadurecimento, Girls continua ficando melhor a cada temporada e se encontrando em um ligar especial e único na TV americana no momento – o tempo será mais gentil com a série do que os críticos hoje em dia, e esse é o maior certificado de qualidade que alguém pode receber.
9. Masters of Sex (4ª temporada) – Showtime
Naquela que acabou sendo a última temporada de Masters of Sex, drama de época da Showtime sobre dois pesquisadores pioneiros da sexualidade, personagens foram explorados de maneira mais objetiva do que a sempre oblíqua showrunner Michelle Aahford permitiu nos três anos anteriores. Pudemos observar Bill (Michael Sheen) passar por uma transformação que, por causa dos 36 episódios anteriores de teimosia, pareceu bem merecida, e Libby (Caitlin Fitzgerald) finalmente se liberar das pressões e descobrir quem verdadeiramente é. Com seu final em 2016, Masters se consagra como um tratado arguto sobre as relações de gênero através da história e um delicado conto moral sobre identidade.
8. Orphan Black (4ª temporada) – BBC America/Space
Em seu penúltimo ano no ar, Orphan Black finalmente ganhou coragem para se tornar mais que a soma de suas partes. Sim, Tatiana Maslany continuou superlativa em seus múltiplos papeis, talvez ainda mais que nas três temporadas anteriores, e sim, a mitologia envolvendo a série ainda é tremendamente divertida e derivativa de chavões clássicos da ficção científica. No entanto, na 4ª temporada, Orphan Black é também um conto urgente sobre a natureza da opressão, e as muitas reações a elas, usando a variedade entre as personagens para criar um retrato inteligente e multifacetado dos efeitos da prisão social em que essas mulheres foram colocadas. Quem diria que Orphan Black se tornaria uma pièce de resistance.
7. Dirk Gently’s Holistic Detective Agency (1ª temporada) – BBC America/Netflix
Essa pérola da BBC America/Netflix surgiu no finalzinho do ano. Inspirada por uma obra de Douglas Adams (O Guia do Mochileiro das Galáxias), Dirk Gently mostrou logo em seu espetacular piloto que seria uma agridoce e deliciosamente absurda viagem por temas grandiosos como destino e redenção. Com personagens vívidos que são tão relacionáveis quanto completamente surreais e uma trama que trouxe mais reviravoltas do que qualquer um poderia prever, Gently trouxe Elijah Wood e Mpho Koaho como comoventes “caras normais” para seus parceiros de cena doidinhos, os brilhantes Samuel Barlett e Fiona Dourif. O resultado é um caldeirão de narrativa de gênero viciante.
6. American Crime Story (1ª temporada) – FX
Um ano em que American Crime Story: The People v. O.J. Simpson fica na sexta posição nessa lista é um ano excepcional. Graças à escola de Ryan Murphy de assumir apenas produção e direção da nova série, deixando o trabalho de roteiro para Lary Karaszewski e Scott Alexander, o que assistimos foi um equilíbrio perfeito entre entretenimento de primeira e retrato social astuto, corrigindo as más concepções da época retratada ao mesmo tempo em que expunha como elas continuavam até hoje. Descontando os sublimes Sarah Paulson e Sterling K. Brown, há de se argumentar que o restante do elenco realizou caricaturas de personagens reais, mas poucas vezes caricaturas foram tão envolventes quanto as de Cuba Gooding Jr. ou John Travolta, por exemplo. American Crime Story pode ser nossa 6ª melhor série do ano, mas é talvez a mais importante.
5. Westworld (1ª temporada) – HBO
Todas as análises rasas que clamavam que Westworld é uma série sobre a natureza de ser humano são um detrimento da obra de Jonathan Nolan e Lisa Joy. De forma paciente e inteligente, os dois showrunners nos conduziram por uma história que é sobre muito mais que isso – é sobre nossos medos e anseios como sociedade, sobre os sistemas que nos prendem em loops eternos, modorrentos, violentos e/ou deprimentes nas nossas vidas, sobre como o mundo é construído para o desfrute de poucos sob o sofrimento de muitos. É uma história de libertação encarnada em cada atuação dos androides do parque, e sutilmente refletida nos humanos – ao final de sua temporada, Westworld, mais uma produção de qualidade refinadíssima da HBO, parece se render aos próprios desejos. E esses prazeres violentos tem fins violentos, como você bem sabe.
4. The Night Of (1ª temporada) – HBO
Em um ano no qual a mídia em geral começou a pensar nas falhas do sistema presidiário e judiciário com mais intensidade, The Night Of chegou para ser a obra definidora dessa reflexão. A trama de Richard Price é menos sobre o mistério em seu centro e mais sobre o que acontece depois dele, e como os vários sistemas da sociedade oprimem, moldam e acomodam os personagens ao redor de Nasir Khan (Riz Ahmed). Com um elenco infalível e um olhar agudo para as hipocrisias da sociedade que cerca suas criações, Price e o diretor Steven Zaililan criaram uma fábula deprimentemente real que assombrou e fascinou todo mundo que lhe deu uma chance por 9 penosas e fundamentais horas.
3. Game of Thrones (6ª temporada) – HBO
Em seu sexto ano, Game of Thrones continuou provando por que é a narrativa definidora da nossa era de televisão – nos bons e nos maus sentidos. A dupla D.B. Weiss e David Benioff trabalhou nas reclamações dos fãs e definiu uma data de término para a série: sem a prisão dos livros de George R.R. Martin, a dupla de talentosos roteiristas conseguiu direcionar sua história de verdade e refletir com mais inteligência sobre seus temas: crença, opressão, a passagem do tempo e o amadurecimento. No caminho, a jornada dos personagens se tornou mais clara e mais envolvente, abrindo espaço para grandes atuações de todos os cantos, especialmente, é claro, de Lena Headey (Cersei). “Battle of the Bastards” (6x09) pode ser a menina dos olhos da HBO nesse sexto ano de Thrones, mas a excelência da série, finalmente, foi muito além de seus momentos mais épicos.
2. Penny Dreadful (3ª temporada) – Showtime
O “final-surpresa” de Penny Dreadful (que não avisou a ninguém que a 3ª temporada seria a última) deixou fãs revoltados, mas em perspectiva é impossível negar que tenha sido a conclusão perfeita para a saga escrita por John Logan. Em seus 27 episódios, Dreadful foi uma análise de como a sociedade “repulsa” e “deixa de lado” os diferentes, e como para estes talvez seja mais catártico ser tocado pelas trevas e pelo mal do que não ser tocado por nada. Essa reflexão chegou ao ápice natural no terceiro ano, abrindo espaço para o episódio mais devastadoramente bem-escrito do ano, “A Blade of Grass” (3x04), uma simples peça de diálogo com mais repercussões e complexidades do que qualquer grande batalha. Fosse ou não o final, Penny Dreadful mereceria seu lugar aqui.
1. The Americans (4ª temporada) – FX
Há 4 anos que The Americans é a melhor série no ar na TV americana. Essa 4ª temporada, no entanto, adicionou mais e mais camadas de complexidade na história do casal Jennings, e especialmente do amadurecimento de seus dois filhos, Henry e Paige. O fato de que The Americans cresceu para se tornar uma série sobre amadurecimento e foi capaz de identificar que o forte temático de sua história estava na forma como o trabalho de espiões de Philip e Elizabeth reflete as complicações da vida adulta que Henry e Paige só começarão a sentir com o tempo é excepcional em si próprio. A forma como a 4ª temporada explorou e expandiu os cantos mais escuros desse mundo adulto, e a forma como a Guerra Fria é intimamente ligada ao momento que vivemos hoje, politicamente, no mundo, é o que a faz acima de qualquer expectativa. Se continuar superando a si mesma dessa forma, é quase impossível prever o que The Americans vai entregar em sua 6ª (e última) temporada em 2018.