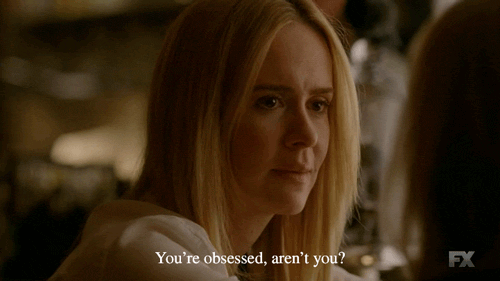por Caio Coletti
Esse primeiro parágrafo está aqui só para o caso de você, caro leitor, ter passado os últimos dias escondido embaixo de alguma pedra por aí: desde a noite de domingo, dia 29, só de fala no Tidal, plataforma de streaming adquirida pelo rapper e magnata da música Jay-Z para declarar uma guerra não-oficial ao Spotify e seus outros primos menos conhecidos. No mercado desde o início de 2014, foi o empurrãozinho do Sr. Carter que fez o Tidal adquirir a proporção global e chamar a atenção de qualquer fã de música que preza pelo que está ouvindo. A conversa parece toda muito bem-intencionada, afinal: dar aos artistas uma quantidade maior de lucro pelas execuções de faixas em serviços de streaming, criar uma comunidade de ouvintes fidelizados, dar mais controle aos artistas sobre como e quando lançam sua música. Alardeado pelos apoiadores como “uma revolução”, com uma campanha baseada em frases megalomaníacas como “juntos nós não podemos ser parados” e chamado por alguns de “o Robin Hood” da música contemporânea, o Tidal quer arquivar tudo isso através do que chama de uma artist-driven community (o que quer que isso signifique) e um preço de assinatura que é praticamente o triplo do que cobra hoje em dia o Spotify – a mensalidade do Tidal está saindo por US$20, ou em torno de RS$60.
Acontece que, de forma nem um pouco surpreendente, toda essa campanha de marketing maquia uma série de verdades que fazem o lançamento do Tidal uma das enganações mais ultrajantes do showbusiness nos últimos tempos. Tanto é assim que algumas vozes já se levantaram contra a disseminação da ideia, mais notadamente a cantora inglesa Lily Allen, que dissertou em seu perfil no Twitter sobre suas reservas quanto ao lançamento de Jay-Z e companhia. Adiantamos que a gente tentou simplificar a conversa, mas o assunto é complexo e acabou saindo um textão – esperamos que vocês dediquem um pouco de tempo e paciência para entender porque, para nós d’O Anagrama, essa história de Tidal é uma bela de uma roubada. Vem:
“Eu acho ótimo, eu amo. Eu acho brilhante, e vou te dizer o porquê… música deveria ser compartilhada. (…) Está tudo bem pra mim se uma pessoa compra meu disco e o copia, divide com os amigos. Eu não me importo. Não me importo como você me ouve, me importo que você me ouça”. A declaração acima veio da boca de Joss Stone, a inglesa de 27 anos que é uma das mais bem-sucedidas artistas soul da nossa época – mais de uma década de carreira, dona de sua própria gravadora e autora de quatro álbuns que entraram para o top 10 da Billboard 200. É fácil pensar que Joss é hipócrita ao dizer isso de uma posição privilegiada de quem tem um público cativo e uma determinada quantidade de fãs compradores de álbuns garantida, mas olhar para a carreira da moça é ver que existe uma forma de prosperar fora do sistema e da obsessão anti-pirataria das gravadoras. Há dinheiro a ser ganho fazendo música fora das vendas de álbuns, a cada ano mais frágeis (mas ainda relevantes).
O streaming, cada vez mais, é uma das formas dos artistas obterem lucro através de sua produção. Em uma elegante e esclarecedora carta aberta em resposta às acusações da cantora Taylor Swift de que o Spotify “não paga o bastante aos artistas”, o CEO da empresa, Daniel Ek, afirmou que o serviço já pagou cerca de US$2 bilhões de dólares à indústria musical (e esses são números de Novembro de 2014!). Completou afirmando que, apesar de apenas 25% dos 50 milhões de usuários do Spotify pagarem pelo serviço premium, cada execução na interface free do aplicativo/site também é convertida em pagamento para os artistas, graças ao suporte das propagandas obrigatórias que os usuários free são obrigados a ouvir entre as faixas. Segundo Ek, a receita obtida pelas execuções de uma artista com a popularidade de Swift deve girar em torno de US$6 milhões anuais – e a única coisa que o Spotify não pode controlar em relação a isso é o quanto desse dinheiro é repassado pelas gravadoras aos artistas envolvidos na produção.
(PS: Um dos já citados tweets disparados por Lily Allen no seu perfil, inclusive, sugeria que, ao invés de cobrar mais pelos serviços de streaming, os artistas exigissem de suas gravadoras uma porcentagem justa do lucro que já estão recebendo. A sugestão vai de encontro a uma série de outras intervenções operadas por profissionais do showbusiness, inclusive a greve dos roteiristas de Hollywood entre 2007 e 2008, que reclamou dos grandes estúdios a repassagem de uma maior fatia de lucros para os autores de filmes e séries sendo exibidos em canais da “nova mídia”)
É mito, portanto, que o Spotify pague pouco para os artistas pela reprodução de seu conteúdo. O mais importante nessa história toda, no entanto, é perceber que o Tidal jamais vai poder ser o “Robin Hood da música contemporânea”, e que a fundação do serviço não é, em absoluto, um ato de rebeldia contra a ingerência das gravadoras quanto ao lucro dos artistas. A evidência mais flagrante disso é que o próprio Jay-Z é dono de seu selo musical, a Roc Nation, e que todos os seus pupilos e associados que estão embarcando na onda do Tidal continuam inseridos no esquema da grande indústria musical. Cobrar mais pelo serviço de streaming nesse caso, portanto, não significa que uma parcela maior dos lucros vai para os artistas – significa que o lucro vai ser maior para eles simplesmente porque o dinheiro arrecadado também vai ser. E nessa brincadeira tanto eles quanto as gravadoras vão enriquecendo para além dos nossos sonhos mais extravagantes de meros consumidores de música.
Veja bem, eu não estou dizendo que esses artistas não mereçam que paguemos pelo trabalho criativo deles. Não estou dizendo que toda a distribuição de arte do mundo deveria ser feita de graça, e definitivamente não estou propondo um showbusiness comunista. Embora esse conceito seja muito bonito, é preciso reconhecer que o trabalho duro desenvolvido por esses indivíduos criativos precisa ser recompensado tanto quanto o de qualquer outra pessoa em qualquer outra área. O que eu estou dizendo, de fato, é que já estamos recompensando essas pessoas pelo que elas fazem – mesmo na atualidade, em que as vendas de discos caíram vertiginosamente em relação a poucos anos atrás, ainda é mais do que significativa a renda conseguida por essas pessoas com ingressos de shows, contratos de publicidade (que só lhes são oferecidos porque nós, consumidores, demonstramos nossa fidelidade aos artistas), streaming e cópias de álbuns adquiridas por fãs e curiosos. De fato, eles são recompensados pelo trabalho deles de forma muito mais abundante que a grande maioria de nós – e nós, como consumidores, temos o dever de fincar o pé no chão e dizer o quanto estamos dispostos a pagar pelo que eles nos oferecem.
Outro ponto muito interessante de se fazer sobre o Tidal, aliás, tem a ver com a quantidade de pessoas que está disposta a desembolsar R$60 mensais para ouvir música. A falácia toda em relação a maior qualidade do streaming vai atrair apenas uma parcela pequena do público, especialmente aquela que tem acesso a headphones de alta definição e especialistas do ramo musical. Uma enorme fatia do público médio, e até dos apreciadores mais atentos de música, está mais que satisfeita com o serviço que o Spotify oferece em termos de resolução de som. E se mesmo assim, mesmo com as mensalidades girando em torno de R$20 por mês, o serviço mais popular de streaming da atualidade conseguiu fidelizar “apenas” em torno de 15 milhões de usuários pagos, qual será o número de subscritos em uma rede que cobra o triplo desse valor?
Caso a adesão de artistas como Alicia Keys, Madonna, Taylor Swift (alguém está surpreso?), Beyoncé, Kanye West, Daft Punk, Rihanna, Coldplay, Usher, Nicki Minaj, Jack White, Calvin Harris e Arcade Fire signifique que todos esses artistas, donos de uma imensa fatia do público musical, estarão lançando seu conteúdo para streaming exclusivamente no Tidal, a coisa vai ficar feia. Pode ser que o Spotify perca muito público, com certeza, mas a imensa maioria dos órfãos de todos os serviços de streaming vai se aglomerar de volta nos sites de pirataria. E, a essa altura, nem é preciso esclarecer porque a indústria musical nunca vai conseguir aniquilar a pirataria, certo? Os sites de torrent tornam quase impossível de se rastrear a fonte primária de um vazamento, uma vez que a cada novo download o conteúdo se torna mais e mais compartilhado entre um número ilimitado de computadores ao redor do mundo. Sem contar que, a cada vez que alguma agência governamental bloqueou o domínio de algum site do gênero, eles encontraram novos lugares para se hospedar na imensidão da web.
Se as consequências desse processo todo não estão claras para você, caro leitor, a gente explica: enquanto redes como o Spotify garantiam que artistas novos e pequenos recebessem (ainda que não muito) pelo trabalho que fazem, principalmente através da aglomeração de um público considerável em torno do serviço, e serviam como uma poderosa ferramenta de conexão e facilitação da ascensão desses artistas, a pirataria obriga-os a disponibilizar seus conteúdos de graça até que tenham adquirido uma base de fãs maior (o que pode nunca acontecer). Em suma, o Spotify era uma alternativa justa e interessante à pirataria, porque fazia bem para a indústria e para os artistas sem fazer mal para o consumidor – era uma proposta conectada com um ambiente cultural em que pagar valores altos por música não é mais uma realidade, e em que vale muito mais conquistar um público pagante do que obrigá-lo a pagar.
O Tidal quer fazer justamente o contrário, tentando nos coagir a pagar muito mais do que pagamos atualmente por um conteúdo que poderíamos ter de graça, se bem quiséssemos. É uma estratégia de marketing empreendida por pessoas que não precisam de mais dinheiro do que você, leitor, já dá para eles (mesmo que você não os dê nenhum!). É uma jogada muito esperta de uma gigantesca gravadora que quer disfarçar a obtenção de mais lucro como uma “revolução” na história da música – mas basta parar por alguns minutos para pensar melhor e fica bem claro que o Tidal não é o futuro do showbusiness. Pelo contrário, é o showbusiness dando dez passos para trás.