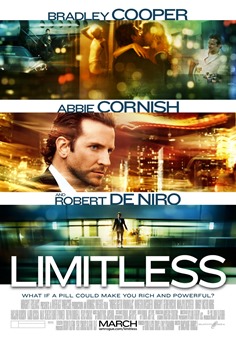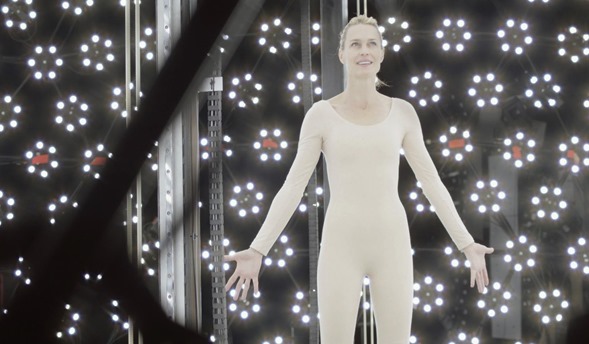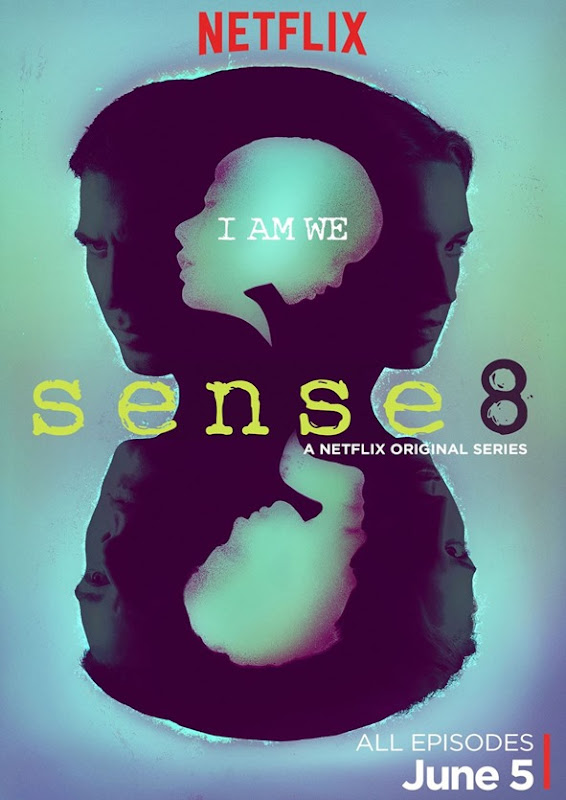por Caio Coletti
Para os apreciadores realmente ávidos de séries de TV, algumas das categorias mais bacanas de se acompanhar nos Emmys são aquelas que premiam os atores e atrizes convidados. São quatro estatuetas que são distribuídas nesse filão, duas para homens e duas para mulheres (uma para os/as melhores em comédia, e outra para drama), e por lá passam desde os astros e estrelas de cinema que fizeram aparições especiais em títulos da televisão americana até os celebrados character actors da indústria. Esses últimos nomes, especialmente, ganham o carinho dos que acompanham uma grande quantidade de séries, uma vez que se tornam presenças familiares, mesmo que apareçam em apenas um par de episódios por série. Além de aparecerem recorrentemente na nossa rotina de seriadores, no entanto, o mais bacana é ver como esses profissionais injetam vida em tipos bem diferentes, provando sua versatilidade e valor.
Bianca Lawson
A californiana Bianca Jasmine Lawson está com 36 anos, completados no último dia 20 de Março. No entanto, pelo menos até 2012, a moça ainda interpretava uma estudante de colegial em Pretty Little Liars, a ultra-bem-sucedida teia de intrigas da ABC Family. A adolescência eterna dessa atriz cheia de recursos e sempre certeira no tom talvez seja herança do papel que a fez famosa, a Megan Jones de Saved by the Bell: The New Class, série na qual esteve entre 1993 e 1994. A partir daí ela engatou participações em tantas séries que fica difícil contar, seja em episódios isolados de procedurals (Bones, Nikita) ou em papéis mais destacados em séries geralmente dirigidas ao público jovem. A gente tem um carinho especial pela personagem dela em Teen Wolf, da MTV, a misteriosa conselheira da Beacon Hills High School – principalmente porque o papel a permitiu “virar a casaca” e se tornar a adulta da história.
Vimos em: American Horror Story (2011, 1 episódio); Witches of East End (2014, 10 episódios); Teen Wolf (2012-2015, 16 episódios)
Também esteve em: Saved by the Bell: The New Class (1993-1994, 39 episódios); Sister Sister (1995-1996, 7 episódios); Buffy the Vampire Slayer (1997-1998, 3 episódios); Dawson's Creek (1999-2000, 4 episódios); Strong Medicine (2001, 1 episódio); The Cleaner (2008, 2 episódios); Bones (2009, 1 episódio); The Secret Life of the American Teenager (2009, 6 episódios); Nikita (2010, 1 episódio); Pretty Little Liars (2010-2012, 22 episódios); Beauty and the Beast (2012, 1 episódio); 2 Broke Girls (2012, 1 episódio); The Vampire Diaries (2009-2014, 6 episódios); Chicago P.D. (2015, 1 episódio)
No cinema: O primeiro papel significativo de Lawson no cinema foi sob o comando de Mike Nichols (Closer), na dramédia política Segredos do Poder, em 1998. O começo auspicioso, no entanto, não rendeu muito: a atriz fez o hit adolescente No Balanço do Amor, em 2001; o terror Bones, ao lado de Snoop Dogg; e as comédias Quebrando as Regras (com Jamie Foxx) e Universidade do Prazer (com Paris Hilton).
Mark Pellegrino
Do magnânimo Jacob de Lost ao próprio príncipe do inferno em Supernatural, Mark Pellegrino já interpretou (literalmente) os dois opostos da balança celestial. Ele também tem uma coleção invejável de tipos humanos, no entanto, com uma carreira de guest star que vem desde o final dos anos 80 e atravessou vários marcos da televisão americana, da comédia Doogie Howser M.D. (que, para quem não sabe, lançou a estrela de Neil Patrick Harris), passando por The Unit, Grey’s Anatomy, Dexter, Prison Break e a versão americana de Being Human, na qual interpretou um policial vampiro (sim!). Recentemente o ator tem conseguido se firmar em papéis mais destacados, aparecendo na cancelada The Tomorrow People como um cientista e na nova The Returned – a adaptação da série francesa Les Revenants já está com segunda temporada quase garantida pelo Netflix e pela A&E.
Vimos em: The X Files (1999, 1 episódio); Ghost Whisperer (2009, 1 episódio); Lost (2009-2010, 7 episódios); Person of Interest (2012, 1 episódio)
Também esteve em: L.A. Law (1987, 1 episódio); Doogie Howser M.D. (1989, 1 episódio); Tales from the Crypt (1990, 1 episódio); Northern Exposure (1992, 1 episódio); Renegade (1995, 1 episódio); E.R. (1996, 1 episódio); Nash Bridges (1996, 1 episódio); The Sentinel (1996, 1 episódio); Crossing Jordan (2002, 1 episódio); NYPD Blue (1997-2002, 4 episódios); The Unit (2006, 1 episódio); Without a Trace (2006, 2 episódios); Burn Notice (2007, 1 episódio); Grey's Anatomy (2007, 1 episódio); Dexter (2006-2007, 8 episódios); Numb3rs (2008, 1 episódio), Prison Break (2008, 1 episódio), Criminal Minds (2008, 1 episódio); CSI (2005-2009, 2 episódios); The Mentalist (2009, 1 episódio); CSI: Miami (2003-2011, 2 episódios); Breakout Kings (2011, 1 episódio); The Closer (2011, 6 episódios); Chuck (2008-2012, 2 episódios); Castle (2012, 1 episódio); Supernatural (2009-2012, 10 episódios); Grimm (2012, 1 episódio); Revolution (2012-2013, 4 episódios); Being Human (2011-2014, 15 episódios); The Tomorrow People (2013-2014, 22 episódios); Chicago P.D. (2015, 1 episódio); The Returned (2015, 10 episódios)
No cinema: Apesar de não ser um rosto muito conhecido, Pellegrino foi requisitado por diretores de calibre como Richard Donner (
Máquina Mortífera 3); os Irmãos Coen (
O Grande Lebowski); David Lynch (
Cidade dos Sonhos); William Friedkin (
Caçado); David Mamet
(
Spartan) e Phillip Kauffman
(
A Marca). Esteve também em
A Lenda do Tesouro Perdido e
O Número 23.
Joe Morton
O veteraníssimo Joe Morton é um dos atores mais respeitados da sua geração hoje em dia. Depois de vencer o tão esperado Emmy, pela atuação em Scandal, no ano passado, a carreira desse nova-iorquino só promete mais grandes coisas para os próximos anos. A escalação para o drama Proof, novo procedural da TNT, só prova a popularidade do ator, que atua na TV desde o comecinho dos anos 70, tendo passado por clássicos como Mission Impossible e Miami Vice. Os papéis mais conhecidos, no entanto, vieram mais tarde na carreira, especialmente depois das cinco temporadas que passou na comédia Eureka, da SyFy, uma das séries mais subestimadas da década passada. Desde então, as participações em The Good Wife e na própria Scandal mantiveram o rosto do ator na mídia, e ele pôde ser visto em um pequeno papel em Grace and Frankie, comédia do Netflix capitaneada por Jane Fonda e Lily Tomlin.
Vimos em: The X Files (2000, 1 episódio); House M.D. (2005, 1 episódio); Numb3rs (2007, 1 episódio); The Good Wife (2009-2011, 11 episódios); Eureka (2006-2012, 76 episódios); Grace and Frankie (2015, 1 episódio)
Também esteve em: Mission Impossible (1970, 1 episódio); M*A*S*H (1976, 1 episódio); Miami Vice (1985, 1 episódio); Who’s the Boss (1986, 1 episódio); The Equalizer (1987-1989, 4 episódios); A Different World (1992, 7 episódios), Homicide: Life on the Street (1994, 2 episódios); The Practice (2002, 1 episódio); Touched by an Angel (1996-2002, 2 episódios); Smallville (2001-2002, 4 episódios); Law & Order: SVU (2003, 1 episódio); Law & Order (1992-2005, 5 episódios); JAG (2005, 1 episódio); CSI: NY (2005, 2 episódios); Boston Legal (2008, 1 episódio); Warehouse 13 (2009, 1 episódio); Brothers & Sisters (2009, 2 episódios); White Collar (2010, 1 episódio); Scandal (2013-2015, 38 episódios)
No cinema: Morton ficou famoso pelo papel em O Exterminador do Futuro 2, em que interpretou o inventor do processador que permitiu a ascensão da Skynet. Também esteve em Velocidade Máxima, O Aprendiz, Enigma do Espaço, Ali, O Mistério da Libélula, O Pagamento, Stealth – Ameaça Invisível e O Gângster.
Aisha Hinds
Uma ex-dançarina de sapateado (!) que foi aconselhada por seu professor à procurar uma forma de expressão “mais completa”, Hinds não começou cedo em Hollywood, arquivando a primeira participação na TV aos 28 anos, em NYPD Blue. Mesmo assim, o look inconfundível da atriz nova-iorquina foi ganhando espaço na plataforma, especialmente depois do papel maior em The Shield, aclamado drama policial da FX. O sucesso a fez ser frequentemente escalada como figura de autoridade, especialmente membro da força policial – foi assim em Invasion, em Prison Break e em Detroit 1-8-7. Ela quebrou o paradigma ao ser escalada como uma exorcista em True Blood, e como a mãe de uma das protagonistas de Under the Dome, a bagunçadíssima adaptação de Stephen King empreendida pela CBS. No thriller Cult, que infelizmente teve vida curta na CW, ela mostrou potencial dramático e versatilidade como a detetive que tem um passado misterioso conectado ao culto do título.
Vimos em: Medium (2005, 1 episódio); Lost (2006, 1 episódio); Cult (2013, 7 episódios); Under the Dome (2013-2015, 13 episódios)
Também esteve em: NYPD Blue (2003, 2 episódios); E.R. (2004, 1 episódio); The Shield (2004, 8 episódios); Boston Legal (2004, 1 episódio); Crossing Jordan (2004, 1 episódio); CSI: NY (2005, 1 episódio); Judging Amy (2005, 1 episódio); Invasion (2005-2006, 15 episódios); It's Always Sunny in Philadelphia (2006, 1 episódio); Stargate SG-1 (2006, 1 episódio); Cold Case (2007, 1 episódio); Bones (2008, 1 episódio); Law & Order: SVU (2009, 1 episódio); Prison Break (2009, 2 episódios); Dollhouse (2009, 1 episódio); Desperate Housewives (2009, 1 episódio); Hawthorne (2009-2010, 8 episódios); True Blood (2008-2010, 8 episódios); Weeds (2010, 3 episódios); CSI: Miami (2011, 1 episódio); NCIS: Los Angeles (2014, 3 episódios)
No cinema: A maioria do trabalho de Hinds se concentra na TV, mas vale registrar os papéis em Assalto à 13ª Delegacia, com Ethan Hawke; Instinto Secreto, com Kevin Costner; Incontrolável, de Tony Scott; 72 Horas, de Paul Haggis; Além da Escuridão - Star Trek, de J.J. Abrams; Se Eu Ficar, com Chloe Grace Moretz; e Nos Bastidores da Fama, de Gina Prince-Bythenwood.
Nestor Carbonell
Os olhos profundos desse outro nova-iorquino causaram comoção quando ele ganhou destaque no elenco de Lost, interpretando o misteriosamente (ah, vá!) imortal Richard Alpert. Acontece que, com seus cílios negríssimos como os cabelos, Carbonell parece estar sempre com os olhos maquiados – e o mais legal é que ele usa esse destaque chamativo do rosto para adicionar intensidade a suas interpretações, que já passaram pelos tipos mais diversos antes e depois da aparição em Lost. Exemplos diametralmente opostos: em Wilfred, a surreal comédia da FX, ele interpretou um médico casado que tem um caso com a irmã do protagonista (Elijah Wood) e a abandona quando descobre que ela está grávida; já em Person of Interest, ele foi um simpático número-da-semana em uma trama envolvendo uma reunião de classe 10 anos depois da formatura. Atualmente Carbonell aparece como o xerife de White Pine Bay, que tem uma complicada relação com Norma Bates (Vera Farmiga), em Bates Motel.
Vimos em: House M.D. (2005, 1 episódio); Lost (2007-2010, 37 episódios); Person of Interest (2014, 1 episódio); The Good Wife (2014, 1 episódio); Wilfred (2011-2014, 3 episódios); Bates Motel (2013-2015, 27 episódios)
Também esteve em: Law & Order (1991, 1 episódio); Melrose Place (1992, 1 episódio); A Different World (1992, 2 episódios); The John Larroquette Show (1996, 1 episódio); Resurrection Blvd. (2000, 6 episódios); Ally McBeal (2002, 1 episódio); Monk (2004, 1 episódio); Scrubs (2004, 1 episódio); Strong Medicine (2004-2006, 11 episódios); Commander in Chief (2006, 1 episódio); Cold Case (2006, 3 episódios); Psych (2010, 2 episódios); Ringer (2011-2012, 22 episódios); State of Affairs (2014-2015, 7 episódios)
No cinema: Você provavelmente se lembra dele como o prefeito de Gotham City em O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge, os dois últimos filmes da trilogia Batman de Christopher Nolan. Atuou também sob o comando de Andy Garcia em A Cidade Perdida.
Peter Scolari
Geralmente, quando se fala de Peter Scolari, cita-se o fato de que o ator é um dos melhores amigos do astro Tom Hanks em Hollywood – os dois dividiram uma sitcom de vida curta no comecinho dos anos 80, chamada Bosom Buddies. Enquanto o colega engatou carreira cinematográfica e acabou ganhando um par de Oscar pelo caminho, no entanto, Scolari continua como um dos talentos mais subestimados de Hollywood – e, agora aos 60 anos, se tornou uma lenda viva da televisão. Indicado três vezes ao Emmy pelo trabalho na sitcom Newheart, entre 1984 e 1990, o ator hoje se destaca em dois papéis recorrentes bem distintos para duas emissoras. Na HBO ele interpreta o pai da protagonista Lena Dunham em Girls, um personagem que ganhou uma storyline curiosa na quarta temporada, abrindo espaço para uma ótima atuação de Scolari. Já na Fox ele faz o inescrupuloso comissário de Gotham City (antes de Gordon, que na história é apenas detetive) em Gotham.
Vimos em: Girls (2012-2015, 15 episódios); Gotham (2015, 4 episódios)
Também esteve em: Bosom Buddies (1980-1982, 37 episódios); Remington Steele (1982, 1 episódio); Happy Days (1983, 1 episódio); Hotel (1986, 1 episódio); Family Ties (1986, 1 episódio); The Love Boat (1986, 3 episódios); The Twilight Zone (1988, 1 episódio); Newhart (1984-1990, 142 episódios); Empty Nest (1994, 1 episódio); Lois & Clark: The New Adventures of Superman (1994, 1 episódio); Dave's World (1994-1995, 2 episódios); The Drew Carey Show (1996, 1 episódio); The Nanny (1997, 1 episódio); Honey, I Shrunk the Kids: The TV Show (1997-2000, 66 episódios); Touched by an Angel (1994-2001, 2 episódios); Ally McBeal (2001, 1 episódio); Reba (2002, 1 episódio); King of Queens (2002, 1 episódio); E.R. (2002, 1 episódio); The West Wing (2002, 1 episódio); What I Like About You (2002, 1 episódio); Sabrina the Teenage Witch (2003, 1 episódio); Big Love (2006, 1 episódio); White Collar (2013, 1 episódio)
No cinema: A amizade com Tom Hanks rendeu as duas maiores aparições cinematográficas da carreira de Scolari: no musical The Wonders, dirigido pelo próprio Hanks; e na animação por-captura-de-performance O Expresso Polar.
Fiona Gubelmann
A doce e linda Fiona Gubelmann vem lentamente cavando seu espaço na televisão na última década. Desde a estreia em 2004, em um episódio do procedural Cold Case, ela engatou uma série de outras participações ínfimas em séries de sucesso e tom bastante variável, se firmando como uma character actress importante da nova geração. Foi com a escalação para o papel de principal interesse romântico do protagonista Elijah Wood em Wilfred que a loira começou a chamar mais atenção, e desde então os convites, especialmente das séries cômicas, começaram a pipocar. A sensibilidade e timing que Fiona mostrou por quatro temporadas na comédia da FX foi requisitada por Modern Family, New Girl, Mad Men e Melissa & Joey, isso tudo só no último ano desde o final de Wilfred.
Vimos em: Don't Trust the B---- in Apartment 23 (2013, 1 episódio); Wilfred (2011-2014, 35 episódios); Modern Family (2014, 1 episódio);
Também esteve em: Cold Case (2004, 1 episódio); Joey (2005, 1 episódio); CSI: NY (2007, 1 episódio); My Name is Earl (2007, 1 episódio); The Closer (2009, 1 episódio); Californication (2009, 1 episódio); Parenthood (2011, 2 episódios); Criminal Minds (2012, 1 episódio); Friends With Better Lives (2014, 1 episódio); Key and Peele (2014, 1 episódio); New Girl (2015, 1 episódio); Mad Men (2015, 1 episódio); Melissa & Joey (2015, 1 episódio)
No cinema: O papel cinematográfico de maior destaque na carreira da jovem Fiona foi em Escorregando Para a Glória, como coadjuvante de Will Ferrell e Jon Heder. No entanto, ela tem dois filmes engatilhados para os próximos anos, ambos trazendo-a no papel principal: o thriller Dispatch e a comédia The Way We Weren't.
Victor Garber
O canadense Victor Garber é um daqueles atores que fez a transição (e continua equilibrando) a Broadway com os papeis na televisão – outros que andam nessa linha junto com Garber são Jane Krakowski, Alan Cumming e Kristin Chenoweth, por exemplo. Ao contrário dos colegas citados, no entanto, Garber segue sendo primariamente coadjuvante em todos os seus papeis na TV e no cinema, e habilidosamente rouba a cena em quase todos eles. Nas duas temporadas da precocemente cancelada Eli Stone, ele interpretou o chefão de uma firma de advogados que, durante a série, mostra um lado sensível e musical – e é fanzoca do George Michael, é claro. Indicado seis vezes ao Emmy, Garber nunca venceu um prêmio da academia da televisão, mas desde o sucesso do seu papel em Alias, de J.J. Abrams, as escalações só aumentaram.
Vimos em: Eli Stone (2008-2009, 26 episódios); Glee (2009, 1 episódio); 30 Rock (2011, 1 episódio); The Good Wife (2014, 1 episódio); Sleepy Hollow (2014, 1 episódio); Web Therapy (2009-2014, 8 episódios)
Também esteve em: Tales from the Darkside (1985, 1 episódio); The Twilight Zone (1986, 1 episódio); E.N.G. (1991-1993, 10 episódios); Kung Fu: The Legend Continues (1994, 1 episódio); Law & Order (1995, 1 episódio); The Outer Limits (1996-2000, 2 episódios); Frasier (2000, 1 episódio); Will & Grace (2004, 1 episódio); Alias (2001-2006, 105 episódios); Ugly Betty (2007, 1 episódio); ReGenesis (2007-2008, 5 episódios); Nurse Jackie (2009, 2 episódios); Murdoch Mysteries (2011, 1 episódio); SGU Stargate Universe (2011, 1 episódio); Suits (2011, 1 episódio); Flashpoint (2011, 3 episódios); The Big C (2012, 1 episódio); Damages (2012, 1 episódio); Republic of Doyle (2010-2013, 4 episódios); Louie (2014, 1 episódio); Blue Bloods (2014, 1 episódio); Power (2014, 7 episódios); Motive (2015, 4 episódios); Flash (2015, 5 episódios)
No cinema: Garber ficou marcado, no cinema, pelo personagem que interpretou em Titanic. No entanto, esteve também na clássica comédia romântica Sintonia do Amor; no misterioso Exótica (do diretor Atom Egoyan); na comédia Clube das Desquitadas; e no vencedor do Oscar Argo, no papel do embaixador canadense.
Alan Tudyk
A bem da verdade, Alan Tudyk é um dos character actors mais importantes da indústria americana não só por suas participações na TV, mas também pela atuação no teatro e no cinema, em que vive surpreendendo o público com os tipos diferentes que consegue encarnar. Na telinha o sucesso veio depois de Firefly, ficção científica de Joss Whedon (Os Vingadores) que foi cancelada após só uma temporada, mas ganhou status de cult e continuação em forma de filme, o ótimo Serenity. Desde então, Tudyk foi escalado para outras ficções (V e Dollhouse, essa última também sob o comando de Whedon), para papéis mais dramáticos (Justified) e para personagems cômicos, nos quais mostrou particular destreza. Apesar dele estar na insuperável Arrested Development, nosso Tudyk preferido ainda é o de Suburgatory, série da ABC na qual ele interpretou o hilário Noah.
Vimos em: Arrested Development (2005-2013, 3 episódios); Suburgatory (2011-2014, 47 episódios)
Também esteve em: Strangers with Candy (2000, 2 episódios); Frasier (2000, 1 episódio); Firefly (2002-2003, 14 episódios); CSI (2006, 1 episódio); V (2009, 3 episódios); Dollhouse (2009-2010, 4 episódios); Justified (2014, 1 episódios); Newsreaders (2014-2015, 14 episódios)
No cinema: O ator marcou presença em inúmeros coadjuvantes, como o Wat de Coração de Cavaleiro e (sim!) o Sonny de Eu, Robô. Outro destaque na enormemente variada filmografia de Tudyk são os trabalhos de dublagem para A Era do Gelo (com vários personagens nos 4 filmes!), Detona Ralph e Frozen.
Amy Sedaris
Das poucas comediantes americanas que não surgiram no Saturday Night Live, Amy Sedaris fez seu nome primeiro com uma série própria, a nem tão bem-sucedida mas muito celebrada Strangers With Candy, e depois como uma presença marcante em várias das melhores séries cômicas da sua época. Ela esteve em Sex and the City, My Name is Earl, The New Adventures of Old Christine, The Middle, 30 Rock, Hot in Cleveland e Raising Hope, sendo especialmente marcante nessa última, como a prima invejosa da protagonista feita pela fabulosa Martha Plimpton. Nos papéis em séries dramáticas, engatou três episódios em The Good Wife, e ainda esteve em Rescue Me e The Closer. É difícil dissociar o rosto de Sedaris do mundo das séries atualmente, e isso é testemunha de quase duas décadas de trabalho duro e presença marcante em todos esses títulos.
Vimos em: The New Adventures of Old Christine (2009, 1 episódio); The Good Wife (2011-2012, 3 episódios); 30 Rock (2012, 1 episódio); Raising Hope (2011-2014, 3 episódios); Unbreakable Kimmy Schmidt (2015, 1 episódio)
Também esteve em: Strangers With Candy (1999-2000, 30 episódios); Just Shoot Me! (2001, 2 episódios); Sex and the City (2002-2003, 4 episódios); Monk (2002-2003, 2 episódios); Ed (2004, 2 episódios); Law & Order: SVU (2004, 1 episódio); My Name is Earl (2006, 1 episódio); Rescue Me (2007, 2 episódios); The Closer (2009, 2 episódios); The Middle (2010, 1 episódio); Royal Pains (2011, 1 episódio); Hot in Cleveland (2011, 2 episódios); Necessary Roughness (2012, 1 episódio); Broad City (2014, 1 episódio); Alpha House (2013-2014, 14 episódios); The Heart She Hollers (2013-2014, 22 episódios)
No cinema: Sedaris roubou a cena em papéis coadjuvantes em Sete Dias Sete Noites, Encontro de Amor, Escola de Rock, Um Duende em Nova York, A Feiticeira, Garota Infernal e Surpresa em Dobro. Também fez memoráveis trabalhos de dublagem em O Galinho Chicken Little, Shrek Terceiro e Gato de Botas.