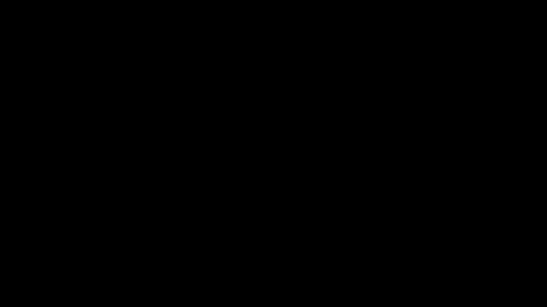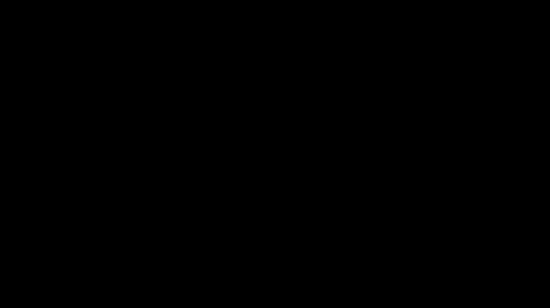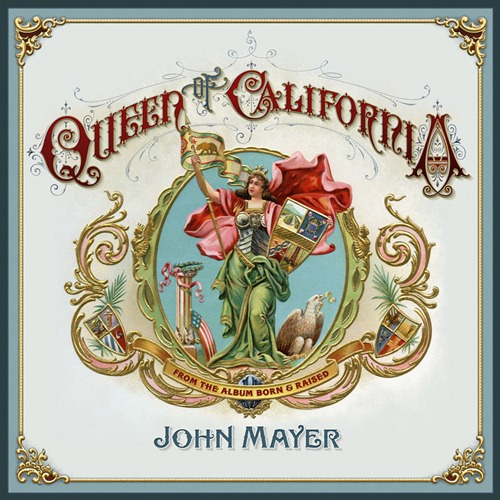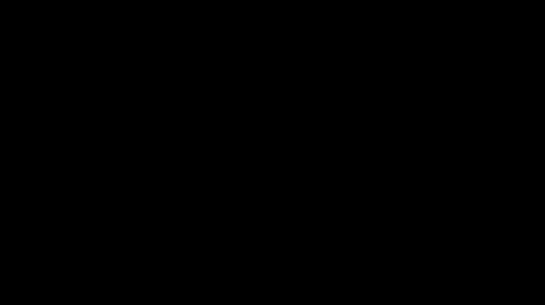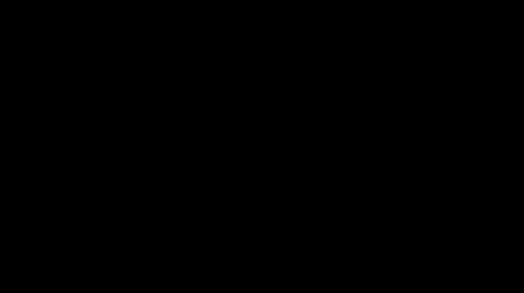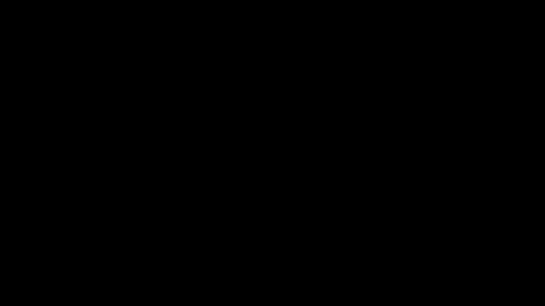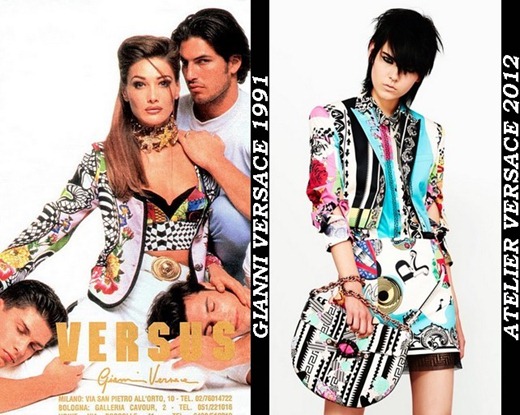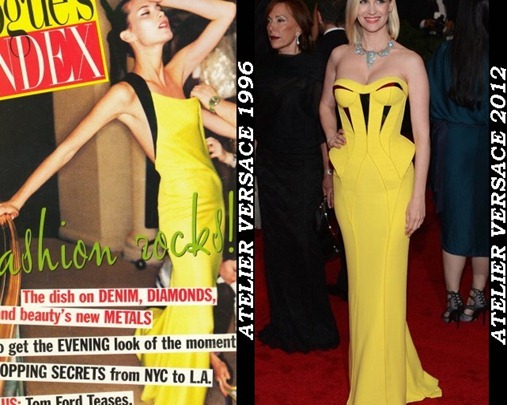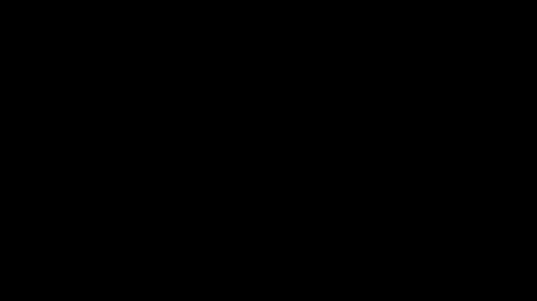“Overexposed”: O Maroon 5 não pode ousar sem deixar de ser o Maroon 5?
por Caio Coletti
(Twitter – Tumblr)
O Overexposed abre com a guitarra reggae de James Valentine, e deságua na batida malevolente do baterista Matt Flynn para “One More Night”. Abrindo com um verso forte como “you and I go hard at each other like we’re going to war”, Levine entrega uma performance que não se perde em exageros, e que deixa brilhar exatamente o que boa parte da crítica tem dito que o álbum deixa de lado: o conjunto do Maroon 5. Quando o baixo funkeado de Mickey Madden entra na equação, já temos uma das alquimias pop mais espertas do ano, e uma “Give a Little More” com mais pedigree.
Em “Payphone”, são os teclados de PJ Morton que colorem o arranjo de batida simples e sintetizadores providos pelo produtor Benny Blanco. Blanco é o responsável, aliás, por essa guinada de direção da banda. Foi “Moves Like Jagger”, dueto com Christina Aguilera que impulsionou as vendas da versão deluxe do Hands All Over, cujos singles anteriores tinham feito sucesso modestíssimo para os padrões do Maroon 5, que motivou o quinteto de Los Angeles a trabalhar com compositores de fora da banda (o que não ocorreu em nenhum dos três álbuns anteriores) e a quebrar a barreira do pop rock funkeado no qual, vamos admitir, eles já estavam se desgastando.
A verdade é que, como ato pop que indiscutivelmente é, o Maroon 5 não pode se permitir uma restrição tão grande, e por tanto tempo, quanto a que caracterizou esses seus primeiros dez anos de carreira. Não me entenda mal: o Hands All Over é um álbum muito melhor do que se é dito por aí, mas novos ares são sempre bem vindos para uma banda pop. Vide “Lucky Strike”, primeira intervenção de Ryan Tedder no álbum. A guitarra de Valentine, que abre a faixa, as viradas de ritmo brilhantes de Matt Flynn e a peculiar malícia no vocal de Adam não deixam dúvida de que este é um trabalho da banda, mas agora eles não temem se arriscar em, por exemplo, uma quebra de ritmo dubstep, brilhantemente levada pelo vocalista (“hey, you’re taking all the pain away!/ You shake me like a earthqua-a-a-a-a-a-a-a-ake”). E o resultado é um hit nato.
“Love Somebody” pode provocar protestos por ser puramente synthpop, mas é uma balada que parece preencher o nicho de nova “Goodnight Goodnight”, missão na qual “Never Gonna Leave This Bed” falhou. A letra extremamente vulnerável (“I really wanna touch somebody/ I really wanna dance the night away/ I know we’re only half way there/ But you take me all the way, you take me all the way”) encontra Levine em um de seus melhores momentos interpretativos, quebrando as barreiras dos filtros de voz para brilhar para além dos sintetizadores de Tedder, colocados, diga-se de passagem, com infindável bom gosto. O vocalista também brilha no piano-e-voz de “Sad”, uma “Someone Like You” belamente melódica para o Maroon 5 chamar de sua.
Rápida em seus menos de três minutos, “Ladykiller” é um deleite que ecoa Michael Jackson no refrão, agraciado com uma exploração saborosa do falsete de Levine e com backing vocals deliciosamente insinuantes. Ainda há tempo para presentear James Valentine com seu único solo do álbum. Ele escolhe surpreender com um timbre de guitarra recortado e brilhantemente manipulado. Seu violão é o destaque de “Beautiful Goodbye”. A tradicional balada com tema de adeus que fecha todos os álbuns do Maroon 5 (na verdade só o segundo, It Won’t Be Soon Before Long, quebrou a tradição – o Songs About Jane teve “Sweetest Goodbye” e o Hands All Over, “Out of Goodbyes”) é também a faixa mais agridoce do Overexposed. Levine canta com um pouco de lamento e um pouco de otimismo, e o refrão é dono de melodia marcante.
“Tickets” é talvez a mais perfeita alquimia entre o Maroon 5 que estamos acostumados a ouvir e a quebra de barreiras que representa o Overexposed. Há uma passagem cantada por coral escolar, enquanto o baixo e bateria brincam com a batida funk da música no instrumental, e a canção tem uma letra que dispensa adjetivos (“stop messing with my mind, ‘cause you’ll never have my heart/ but your perfect little body m-m-makes me fall apart”). Logo em seguida, “Doin’ Dirt” é, sem rodeios e sem pedir desculpas por isso, uma canção disco. E de fato não é preciso pedir desculpas quando se compõe algo tão absurdamente divertido e prazeroso para os ouvidos. Os sintetizadores explodem em nostalgia disco, Levine parece se divertir tanto quanto o ouvinte nos vocais, e de repente toda a discussão em torno do Overexposed ser a “rendição” do Maroon 5 as exigências da indústria é ofuscada pelos reflexos da bola de discoteca. Como de costume, não há espaço para bobagens críticas quando se está ouvindo boa música.
***** (4,5/5)
Maroon 5: menos rock e mais pop.
por Gabryel Previtale
(Twitter – Tumblr)
Faz um pouco mais de um mês que a banda de sucesso internacional Maroon 5 lançou seu novo trabalho, o álbum Overexposed. Depois de quase dois anos sem lançar um disco, a banda pop rock veio mais pop do que nunca, como já era esperado por seus fãs depois do sucesso de “Moves Like Jagger”. A banda resolveu continuar com esta fórmula que lhe rendeu um ótimo single que foi tocado em vários países. Porém, o quarto trabalho da banda foi muito criticado, há quem diga que o grupo perdeu sua identidade e a intenção era emplacar outro novo single de sucesso, que faria assim um CD totalmente pop/dance/hip-hop sem se preocupar com a sua antiga base musical e com seus leais fãs que adoram a banda pelo misto de rock com pop, um rock dançante como a banda é conhecida. Segundo o guitarrista James Valentine, o nome do álbum surgiu devido ao fato da superexposição do seu vocalista, Adam Levine. Completou dizendo que seria um titulo engraçado para o novo trabalho.
O álbum realmente esta muito mais dançante. Vale apena lembrar que o tecladista Jesse Carmichael que é, junto com Adam Levine, o compositor dos maiores sucessos da banda, como “This Love” e “Sunday Morning“, por exemplo, resolveu tirar férias por tempo indeterminado e sua falta parece se destacar muito.
O novo cd no geral não perdeu sua identidade e só se modernizou e se adaptou aos novos sucessos da atualidade (talvez esse tenha sido o choque que muitos sofreram e criticaram o grupo). Existem sim ainda no álbum musicas bem estilo Maroon 5, como a faixa “One More Night”, que abre o disco e foi o mais recente single lançado. As primeiras faixas seguem essa linha dançante porém com alguma guitarra por trás com uma base bem produzida e arranjos guiados pela voz aguda de Adam, que nos fazem lembrar o real grupo por trás disso e sua “raiz musical”. Faixas que resgatam uma fase alegre e até provocante e sexy de Adam e da banda, e não há mal algum em se fazer um disco mais elevado em termos sentimentais. “Lucky Strike” é uma canção que deve ter atendido a maioria dos fãs da banda. Começa com alguns acordes de guitarra e depois se une com o eletrônico, mostrando de novo um arranjo bem pensado e elaborado, um pop rock sem ser “boate”. E para não perder o costume tem as faixas mais tristes que pesam nos agudos de Adam, como “Sad” e “Beautiful Goodbye”, que se encaixam no contexto das faixas escolhidas.
Em geral o álbum é muito bom e dançante, mas a banda comete alguns deslizes, infelizmente, como faixas que poderiam ter ficado fora da playlist por serem “fracas” ou músicas que abusaram do eletrônico e perderam qualquer vestígio da banda, onde só se ouve a voz do Adam e os efeitos dance. Como em “Tickets”, invadida pelo tecno, a faixa é boa, entretanto não parece ser da banda, sem acordes e pouco estruturada, dando impressão de música de casa noturna e não de uma banda de pop rock. Outra falha seria a canção “Love Somebody”, nutrida de batidas fortes e um refrão “chato”, um pouco inconveniente aos ouvidos. “Doin’ Dirt” é uma das minhas preferidas, mas há comentários da música remeter musicais de “temática gay”. Com essa faixa e “Fortune Teller”, parece que o grupo está tentando mudar o foco para conseguir mais fãs, atingindo aqueles que gostam de eletrônico também, mas creio eu que a banda já possui uma legião de adoradores bem distintos e não precisa desse tipo de abordagem.
Munido de faixas tão agradáveis e dançantes que fazem com que quem as ouve parecer que conhece o disco todo, este quarto disco teve dezenas de produtores envolvidos e não possui uma proposta única, apostando em diversos estilos, inclusive com pitadas de reggae, R&B e dance. Funciona como se cada faixa pudesse se transformar em um single. Ao contrário do que muita gente disse, que o disco ia ser muito comercial e cair na monotonia, causou um impacto muito positivo e afável.
***** (4,5/5)

Overexposed
Lançamento: 26 de Junho de 2012.
Selo: A&M/Octane.
Produção: Benny Blanco, Sam Farrar, Shawn Kang, D.J. Kyrirakides, Mason “MdL” Levy, Adam Levine, Maroon 5, Max Martin, Noah “Mailbox” Passovoy, Matthew Rappold, J.R. Rotem, Sam Spiegel, Shellback, Ryan Tedder, James Valentine, Brian “Sweetwesty” West, Noel Zancanella, Marius Moga.
Duração: 42m19s.
___________________________________________
Notas (glossário):
Dupstep:
Tendência absoluta no mundo da música eletrônica atualmente, o estilo surgido em Londres se caracteriza basicamente por grandes quebras de ritmo, padrões de bateria reverberantes e fortes linhas de baixo. O expoente mais destacado do estilo hoje é Skrillex (ouça "Equinox (First of The Year)"), mas o dubstep tem forte influência também no último hit de Rihanna, "Where Have You Been".
Disco:
A disco music é um gênero de música pop que teve seu auge no final dos anos 70, tendo com ocaracterísticas os vocais produzidos com ecos, percussões de influência latina e o uso de instrumentos de sopro ao lado dos teclados e sintetizadores. A recentemente falecida Donna Summer é considerada uma das rainhas do gênero (vide"Bad Girls").