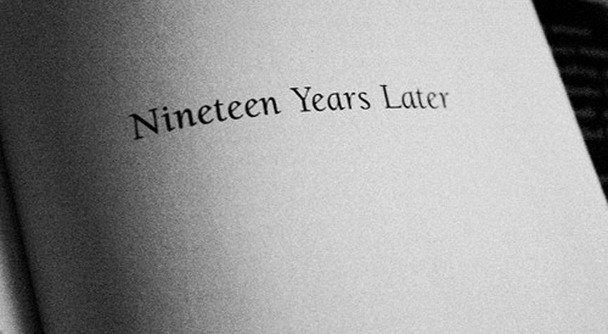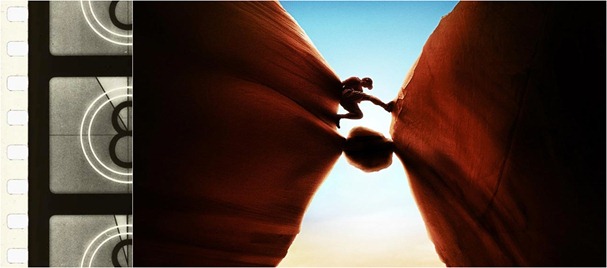**** (3,5/5)
Eu sempre fui defensor de Colbie Caillat como uma artista legítima, que compõe por si mesma e encontra personalidade própria até nos momentos mais vintage de sua discografia que, vamos combinar, não é a mais inovadora do século. Encarando a realidade, o grande porém na música da americana era que suas canções funcionavam melhor isoladas do que no contexto repetitivo que seus dois álbuns, especialmente o Breakthrough, estabeleceram. All ofYou tampouco é a obra-prima revolucionária do ano, mas é de fato gratificante ver Colbie sair de sua zona de conforto algumas vezes pelo simples prazer de nos trazer uma obra menos ingênua e enjoativa, com mais variedade musical e colorido temático, e ainda se esforçar pelo caminho para garantir que todo o álbum saia com a assinatura que os fãs aprenderam a reconhecer nela. Mais gratificante ainda é perceber que, com tão poucos tropeços quanto possível, Colbie se sai brilhantemente na tarefa.
A porção inicial do álbum, especialmente, é uma surpresa daquelas de fazer abrir um belo sorriso. Colbie abre o álbum com Brighter Than The Sun (Faixa 1), co-composição entre ela e Ryan Tedder (realmente ainda existe a necessidade de apresentações para o líder do OneRepublic e figurinha carimbada na discografia de quase todas as grandes cantoras pop do século?) que se sai com a assinatura do mesmo por todos os lados. Ainda assim, é um deleite ver que Colbie tem potencial vocal para carregar facilmente uma canção que sai um pouco de sua zona de conforto, com os elementos de R&B e aquela qualidade indefinível que Tedder sempre dá um jeito de incutir nas suas composições. Segunda faixa e primeiro single, I Do (Faixa 2) é um prazer culpado de menos de três minutos, com uma letra com algumas falhas latentes, mas ainda assim irresistível em toda a sua doçura. Quase o mesmo que se pode dizer de Favorite Song (Faixa 4), uma canção hip-hop com a participação de Common que empresta o feeling das guitarras reggae misturadas com os versos rapeados direto do repertório menos conhecido de Jason Mraz, mas tem tudo no lugar certo e, apostem, vai fazer algum barulho como terceiro single que claramente foi feita pra ser.
É curioso que entre essas três canções exista Before I Let You Go (Faixa 3) e, depois delas, What If (Faixa 5). A primeira brinca com o que se espera da Colbie Caillat vintage, mas ainda assim arquiva um tom ligeiramente mais denso tanto na letra, que retrata um relacionamento atrapalhado por uma terceira pessoa, quando no instrumental, que tem as primeiras intervenções de guitarra elétrica do álbum. Acaba, com seu refrão cativante, como umas das melhores faixas do All of You. A quinta faixa do tracklist, por outro lado, revive um velho paradoxo recorrente na discografia de Colbie. Não é uma canção ruim, e nem poderia ser, tão ajustada àquela formula do pop rock anos 2000 que a cantora ajudou a estabelecer, ao lado de Taylor Swift. Acontece que há Swift demais e Caillat de menos na canção. Algo na forma como Colbie carrega (competentemente) essa faixa feita nas perfeitas regras do gênero simplesmente não casa com a personalidade que ela demonstra nas sutilezas do restante de sua discografia.
Até mesmo numa composição absurdamente pop como Think Good Thoughts (Faixa 7) Colbie soa melhor na própria pele. Juntando as forças de dois grandes compositores da atualidade, Toby Gad e Kara DioGuardi (ele escreveu “If I Were a Boy”, e ela é responsável por 90% dos dissidentes do American Idol), o que temos é uma canção sem grandes surpresas nem grandes segredos. Verdade seja dita, a produção pega leve tanto na voz da Colbie, mais pura e agradável aqui do que nunca, quanto no arranjo da canção, levado todo por violão e bateria. A qualidade reggae da canção é delicada, feminina, leve e refrescante. E quem se importa se a mensagem e clichê? A de Dream Life, Life (Faixa 10) também é, mas Colbie e seu parceiro aqui, Rick Nowels, inserem uma qualidade peculiar na canção e na letra que fazem do bom e velho “aproveite o dia” algo de fato inspirador de novo. Talvez seja simplesmente o fato de que, dessa vez, Colbie não é otimismo o tempo todo.
É para isso que a canção-título, All of You (Faixa 9) está aqui: para surpreender com uma letra que é ao mesmo tempo romântica e lança algumas sombras sobre a história de uma amante declarando ao amado que quer conhecer todos os seus segredos. Talvez seja simplesmente a interpretação de Colbie, que trata de imbuir sua voz daquele country heartbreak que voltou tão fácil a moda com o Lady Antebellum solto por aí. E é notável o quanto o timbre da americana soa bem com essa inflexão. Outra pequena pérola é Shadow (Faixa 6), com a batida de violão do exímio guitarrista e compositor (e namorado da cantora) Justin Young, que se junta a amada para ceder a letra mais azeitada, de metáfora mais envolvente, de todo o álbum. Há aqui também aquela característica country da faixa-título, e esse ingrediente, como os outros, fizeram bem a mistura da cantora.
All of You fecha trabalhos com Make it Rain (Faixa 12), uma balada que leva a assinatura solo de Colbie na composição e, nenhuma surpresa, deixa mais da personalidade da cantora trasnparecer do que qualquer outra faixa do álbum. E é bom ouvi-la assim, honesta, simples, entendendo que música não precisa de complexidade para ser capaz de emocionar quando bem composta. O arranjo é crescente, sim, mas não força esse crescimento ao ouvinte. Sem esforço nenhum, Colbie nos entrega o seu melhor para fechar um álbum que se esforça para não ser, como algumas de suas tentativas anteriores, esquecível. E mesmo que tropece aqui e ali, é uma tentativa mais do que válida. E uma expansão de horizontes, o que é, sempre, um bom sinal.
“Tell me everything/ Tell me every little thing/ I won’t run away/ No matter what you say/ I wanna hear your heart/ Every single beat in part/ The good and the bad/ I swear I won’t be mad/ It’s you I want/ All of you”
(Colbie Caillat em “All of You”)