Como já é de costume: O Anagrama tarda, mas não falha! Prometemos uma lista completa dos melhores discos de 2016 pra vocês, e finalmente entregamos, com a nossa melhor tentativa de colocar em review esse ano maravilhoso, cheio de diversidade e propostas interessantes trazidas por novatos e veteranos no mundo da música. Agora sim, 2017 pode começar de vez!
20)
Freetown Sound (Blood Orange)
Duração: 28 de junho
Selo: Domino
Produção: Devonté Hynes
Duração: 58m40
por Andressa Cruz
Freetown Sound foi uma daquelas sugestões do Spotify que me fizeram agradecer pela plataforma. Até então, eu não conhecia Blood Orange. O artista, que atende pelo nome de Dev Hynes, já compôs para Solange, Sky Ferreira, FKA Twigs, Florence + The Machine e Carly Rae Jepsen, além de ter três álbuns lançados.
2016 foi um ano pautado pelos movimentos sociais como Black Lives Matter, o que dá a Freetown Sound um apelo documental. O cantor empresta sua vivência como um homem negro e cria letras que retratam a dificuldade que a comunidade negra encontra na sociedade. “Hands Up” é uma clara alusão à morte de Trayvon Martin, na Florida. Ainda na mesma faixa, a frase “don’t shoot” (“não atire”) pode ser ouvida no final da música.
Hynes empresta o nome da capital de Serra Leoa - lugar onde seu pai nasceu - para seu álbum. A referência africana não está somente no nome do disco – Hynes usa alguns samples de dialetos regionais em suas músicas e alguns batuques, como podemos ouvir em “Juicy 1-4”. A mistura dos elementos africanos com uma pitada de synthpop, R&B e funk dão a Freetown Sound uma sonoridade única.
“By Ourselves” é um poderoso testamento sobre mulheres negras. A faixa contém um poema de Ashelee Haze chamado “For Colored Girls” que nada mais é do que um tributo à Missy Elliot e como a representatividade de mulheres negras na mídia é importante. Com participações de Debbie Harry, Nelly Furtado e Carly Rae Jepsen, Freetown Sound é um álbum que explora problemas sociais e políticos como racismo e homofobia, além de trazer referências musicais que se sobressaem a cada audição.
19)
Coloring Book (Chance the Rapper)
Lançamento: 13 de maio
Selo: Independente
Produção: Brasstracks, Kanye West, The Social Experiment, Lido, CBMIX, Stix, Rascal, Kaytranada, GARREN, LoopedOutLoud, Cam O’Bi
Duração: 57m14
por Andressa Cruz
“Music is all we got”. É esta frase que ressoa no refrão de “All We Got”, primeira faixa do álbum Coloring Book, de Chance The Rapper. A música traz a participação de Kanye West, Chicago Children’s Choir e The Social Experiment - projeto paralelo de Chance. Afirmando que música é tudo que eles têm, o rapper continua os temas de “Ultralight Beam” (faixa em que ele participa no álbum The Life of Pablo, do Kanye West) e fala sobre música, sua namorada e sua religião.
Religião que esteve presente na concepção no álbum, desde as letras até a mixagem. A mixtape traz a fusão do hip-hop com o gospel, transformando Coloring Book na prece que eleva nosso espírito e ouvidos. Rimas precisas, batidas enérgicas, elementos da soul music e referências bíblicas transformam o álbum em um dos melhores do ano.
Nascido em Chicago, Chance carrega em suas letras o cotidiano de sua terra natal e os conflitos de um jovem adulto. O músico também é ligado aos movimentos sociais, principalmente da comunidade negra norte-americana. Em “Blessings”, o rapper louva a Deus, agradece por suas bênçãos e faz uma metáfora com Black Lives Matter.
Chano - como é conhecido o rapper - deixa claro em algumas rimas que se recusa a assinar com qualquer gravadora e que gosta de ter total controle de sua música e seu processo criativo. Por isso, suas mixtapes são lançadas de forma independente. Na primeira semana, Coloring Book atingiu a marca de 57.3 milhões de steaming na Apple Music, o que equivale a 38.000 unidades vendidas.
Nem em suas orações mais íntimas, Chance poderia prever tamanha graça. Seu álbum foi tão aclamado que, devido ao seu sucesso, o Grammy passou a aceitar a candidatura de álbuns lançados exclusivamente em plataformas de steaming.
Canções como “How Great” sintetizam a obra hip hop gospel que Chance se propôs a fazer. A música traz uma introdução de um hino cristão, e a voz de Nicole Steen juntamente com o Chicago Children’s Choir nos dão a sensação de estarmos numa celebração. Entre outras colaborações estão Justin Bieber na faixa “Juke Jam", Lil Wayne e 2 Chains em “No Problem” (abaixo) e Future em “Smoke Break”.
Coloring Book sucede a mixtape Acid Rap e coloca Chance the Rapper como um dos artistas a se observar. Sempre sem abandonar sua origem, ideais, música e inovação, o que podemos esperar dele em seu próximo trabalho?
18)
A Seat at the Table (Solange)
Lançamento: 30 de setembro
Selo: Saint/Columbia
Produção: Solange, Raphael Saadiq, Troy R8dio Johnson, Raymond Angry, Questlove, Majical Cloudz, Sir Dylan, David Longstreth, Bryndon Cook, Dave Sitek, Patrick Wimberly, Sampha, Kwes, Olugbenga Adelekan, Adam Bainbridge, Sean Nicholas Savage, John Kirby, Rostam Batmanglij, Q-Tip
Duração: 51m43
por Andressa Cruz
2016 foi um ótimo ano musicalmente para a família Knowles, e principalmente para os fãs de Beyoncé e Solange. Se Beyoncé é a maior artista pop da atualidade, Solange toma outro caminho em sua sonoridade. Comparações são desnecessárias - cada uma atende públicos e ouvidos diferentes. Tem dias que eu acordo Beyoncé e coloco “Crazy in Love” para tocar, tem dias que eu acordo Solange e ouço “Losing You”.
Com A Seat at The Table, Solange nos convida à mesa onde neo soul e R&B são os pratos principais. E assim como uma boa refeição, o álbum deve ser saboreado sem pressa. A obra contém 21 canções e dialoga com a comunidade negra, principalmente com as mulheres, mostrando a complexidade que é ser uma mulher negra nos Estados Unidos. A própria cantora afirmou que o disco é destinado a provocar a cura e uma jornada ao auto-empoderamento – como em “Rise”, primeira do álbum, que fala como devemos nos manter fiéis a nós mesmos em tempos de sucesso e fracasso.
“Don’t Touch My Hair” é uma denúncia sobre as pequenas sutilezas do racismo e como as mulheres negras sofrem com essas agressões diárias. A faixa esconde em sua delicadeza a frustração que é ter seus cabelos invadidos por pessoas que não enxergam o quão invasivo é tocar nas pessoas sem permissão. Seja tratando de racismo ou machismo, A Seat at The Table toca em questões importantes e passa sua mensagem aos ouvidos atentos.
Assim como a irmã em Lemonade, Solange utiliza de um casting formado por negros como resposta à baixa representatividade na indústria do entretenimento. A Seat at The Table traz raiva e frustração que negros sentem pela discriminação na sociedade, mas também mostra que, através da introspecção e liberação dessa raiva, podemos lutar por uma sociedade mais igualitária respeitando nossos semelhantes. O álbum veio mostrar por que 2016 foi o ano da família Knowles e por que o debate racial continua sendo importante.
17)
99 cents (Santigold)
Lançamento: 26 de fevereiro
Selo: Atlantic
Produção: Santigold, Patrik Berger, John Hill, Rostam Batmanglij, Ian Longwell, Dave Stiek
Duração: 45m22
por Caio Coletti
Oito anos depois de sua estreia no cenário musical com o disco homônimo, de 2008, Santigold é uma das entidades mais subestimadas e essenciais do pop americano. Aos 40 anos, ela traduz as frustrações de uma carreira definida pelos obstáculos colocados a frente dela no disco 99 cents, que se coloca tanto como uma crítica consumista quanto como uma vingança pessoal e amarga contra o show business que a manteve na periferia do discurso popular por todos esses anos. A verdade é que poucos artistas entendem a íntima contradição da música pop como Santigold: ela sabe que o que produz é essencialmente descartável, e capitaliza em cima disso para criar, paradoxalmente, delícias musicais e líricas que definem o tempo em que se encontram e alcançam um nível de discurso histórico por isso. Ácido no conteúdo, mas açúcarado na forma, o terceiro disco da carreira dessa artista única é uma das viagens pop mais gratificantes do ano.
O tom, meio cínico, meio celebratório, é definido já no primeiro single e faixa de abertura, “Can’t Get Enough of Myself” (abaixo). Sobre uma produção divertida que trafega no mesmo território hip hop/new wave que sempre definiu a música de Santigold, a artista tece uma irônico-sincera exaltação de si mesma que gera versos deliciosamente culpados (um preferido pessoal: Ain’t a gambler, but honey, I’d put money on myself). A auto reflexão atinge uma nota mais sombria em “Chasing Shadows”, marcada pelo piano, que encontra Santigold versando de forma fluída sobre sua insatisfação com o conceito de celebridade, o andamento de sua carreira, e o envelhecimento (Selling years of ideas ‘til I’m old and living on the shelf).
As experiências musicais atingem o ápice com “Rendezvous Girl”, em que a artista brinca mais intimamente com o pop oitentista ao contar a história de uma garota de programa, mas o disco passa perto de muitos gêneros sem perder a identidade. Do eletro funkeado de “Big Boss Big Time Business” até o indie rock de “Who I Thought You Were”, Santigold conta com a ajuda de um grupo de produtores eclético para criar o caleidoscópio musical do 99 cents, mas se mantém firmemente na direção artística dessa deliciosa bagunça pop. Por isso talvez o álbum pareça tão coeso, abordando a futilidade e vaidade do show business e do seu público com versos certeiros, afiados com a experiência de uma polemizadora de longa data.
Mesmo que esteja apenas em seu terceiro álbum, para muitos que acompanham a marcha do pop americano Santigold já entrou naquela fase em que, após um relativo sucesso no começo da carreira, seus novos lançamentos parecem ser ouvidos apenas pelos fãs fieis, e sua relevância parece apagada para o discurso social. Em 99 cents, ela se posiciona como um produto que se recusa a passar da data de validade – consciente de sua posição nessa máquina inclemente do pop, ela faz o que sempre fez de melhor: se rebelar. Como de costume, é um prazer ouvir seus gritos de protesto.
16)
This is Acting (Sia)
Lançamento: 29 de janeiro
Selo: Inertia/Monkey Puzzle/RCA
Produção: Greg Kurstin, Jesse Shatkin, Kanye West, Jack Antonoff, 88-Keys, Jake Sinclair, T-Minus, Nikhil Seetharam, Chris Braide, Josh Valle, Cameron Deyell, Alan Walker, Oliver Kraus
46m32
por Caio Coletti
Há uma qualidade especial em cada um dos grandes atores da história do cinema, teatro ou TV: ao encarnarem outras pessoas, eles trazem para a superfície partes específicas de si mesmos que ficavam escondidas sobre uma imagem pública propositalmente construída. Em This is Acting, Sia faz algo parecido, como o nome dá a entender – ela usa e abusa de melodias e letras que teceu originalmente para outros artistas, sob o ponto de vista deles, para revelar partes de si que existiam sob o tema prevalente de sua carreira, que tem sido definida por um power pop machucado, porém triunfante. Em seu sétimo disco, o primeiro após o sucesso absurdo de “Chandelier”, Sia é engraçada, relaxada, sexy e desafiadora, adotando de forma consciente personas que nos ajudam a construir uma visão mais multifacetada da artista como ser humano complexo e genuíno.
Ajuda, é claro, que a cantora esteja em um bom momento em sua vida. Após superar problemas com o vício em álcool e reencontrar o sucesso como artista expressiva sem precisar se sujeitar aos holofotes ofuscantes da fama, Sia se solidificou como um dos grandes ícones do pop contemporâneo. Sua assinatura melódica é tão reconhecível que um álbum como This is Acting faz ainda mais sentido, mostrando com bom humor como ela se encaixa em propostas e gêneros diferentes. Em “Alive”, escrita com Adele, Sia usa as longas notas pretendidas para mostrar a potência da cantora britânica de forma inteligente, “quebrando” sua própria voz de formas geniosas para realçar a expressão da letra, que proclema força diante de dificuldade.
Em “Move Your Body”, feita para Shakira, Sia faz uma esperta emulação do estilo inconfundível da colombiana, passeando por uma batida forte e uma avalanche de sintetizadores, definindo seu próprio estilo de sensualidade pop (Your body is poetry/ Speak to me/ Won’t you let me be your rhythm tonight?). O hit do disco, “Cheap Thrills” (abaixo), ao lado da divertida “Reaper”, trazem a cantora encarnando com gosto a atmosfera relaxada das pérolas radiofônicas de Rihanna, Kanye West e companhia. Na ágil “Sweet Design”, escrita para Jennifer Lopez, Sia discursa de forma deliciosamente kitsch sobre seu traseiro (News travels fast/ When you’ve got an ass like/ My sweet design).
O lado malicioso e debochado do This is Acting é equilibrado por faixas que mostram que o pendor de Sia para canções emocionalmente complexas não deixou de existir. “Bird Set Free” é um devastador hino de libertação de um relacionamento abusivo que ainda encontra tempo para ser uma declaração pessoal de Sia sobre a natureza de sua arte (I don’t care if I sing off-key/ I found myself in my melodies/ I sing for love, I sing for me/ I shout it out like a bird set free); “Broken Glass”, por outro lado, atinge o ouvinte em cheio com seu surpreendente otimismo romântico; e, por fim, “Space Between” mostra que a Sia das baladas arrastadas e opressivas não cansa de nos deixar em pedaços.
Em certo momento de “Alive”, Sia canta que “viu sua vida no rosto de um estranho” – This is Acting exalta as possibilidades transformadoras do pop como encarnação de pessoas e personagens diferentes em forma de música, um “faz de conta” que sempre tem como objetivo dizer algo de muito real. A mensagem de dor sem resignação de Sia continua aqui, e continua essencial.
15)
All I Need (Foxes)
Lançamento: 5 de fevereiro
Selo: Sign of the Times/Epic/RCA
Produção: Mark Ralph, Tim Bran, Roy Kerr, Jim Eliot, Dan Wilson, Ashley Hayes, Jesse Shatkin, Liam Howe
Duração: 41m46por Caio Coletti
Em sua essência, a música da britânica Louisa Rose Allen, conhecida pelo pseudônimo Foxes, é piano pop injetado com esteróides. Em All I Need, isso fica ainda mais claro do que no over-produzido (mas belíssimo) Glorious, que marcou sua estreia em 2014 – nas mãos de produtores que moldam suas canções delicadas com mais cuidado, Foxes encontra uma voz que é notavelmente contemporânea ao mesmo tempo em que paga “pedágio” para a tendência de nostalgia na música pop, injetando com sintetizadores faixas como o single “Body Talk” (abaixo), um hino de libertação que tem a linha melódica e o instrumental de uma canção oitentista de Cyndi Lauper. Escrito na “ressaca” de um relacionamento que Foxes pinta com tintas abusivas, o All I Need alterna entre baladas raivosas e alquimias pop positivas.
No caminho, o disco também força a voz única de Foxes a atingir alturas inesperadas. Em “Feet Don’t Fail Me Now”, enquanto canta sobre a vontade de fugir da situação opressiva em que se encontra, a artista engata um refrão berrado que só realça a geniosidade melódica de sua composição. Como compositora, Foxes é atraída por conceitos e versos aparentemente simples que escondem uma intrincada relação melódica, frequentemente contrapondo pré-refrões verborrágicos e rápidos com refrões antêmicos – vide a maravilhosa "Devil Side" (You and I/ We’ve come from the same long line/ Good kids with a devil side/ Just going around again).
O disco não deixa de passear por gêneros, embora sempre retorne para uma fórmula fácil de piano, voz e cordas para as baladas, sem deixar de surpreender nos pequenos detalhes. “Cruel” mostra Foxes mergulhando em um R&B suave com a ajuda do co-compositor Kid Harpoon, conhecido pelo trabalho com Florence + The Machine; "If You Leave Me Now" ganha bela orquestração sobre sua letra suplicante; “Wicked Love” e seus sintetizadores sonhadores cairiam bem na tracklist do FROOT, de Marina & the Diamonds, se a melodia e o tom não fossem tão marcada e incontestavelmente Foxes.
Para finalizar um disco doído e genuíno sobre um relacionamento emocionalmente violento, Foxes encontra na balada "On My Way" sua expressão mais pura: sobre um piano raramente interrompido por outras delicadezas de produção, ela encarna a sua angústia por libertação, mas também a irresistível força de atração que a mantém presa, em uma interpretação vocal potente e envolvente. All I Need não é um disco pessimista, encontrando nas brechas do piano pop de Foxes espaços para expressar uma liberdade e juventude excitantes – com seu tom agridoce, é uma peça sutil e muito bem vinda de música.
14)
Here (Alicia Keys)
Lançamento: 4 de novembro
Selo: RCA
Produção: Alicia Keys, Swizz Beatz, Erika Rose, Mark Batson, Illangelo, Jimmy Napes, Pharrell Williams, Harold Lilly
Duração: 45m55
por Caio Coletti
Como musicista e letrista, Alicia Keys sempre foi uma revolucionária discreta. De sua revelação como um dos talentos mais impressionantes da geração, após o álbum Songs in A Minor (2001), até o tom triunfante de seu quinto disco de estúdio, Girl on Fire (2012), o destaque de seu trabalho sempre foi a elegância e positividade da mensagem que passava, e a mistura sedutora de gospel, R&B e hip-hop que apresentava. Em Here, essa sutileza minuciosa, que levou muitos críticos a decretarem Alicia como uma artista “sem evolução”, é substituída por um desvio de trajetória – talvez inspirado pelo ambiente social que a permite ser mais franca como mulher negra, no mesmo ano em que Beyoncé, Solange e Rihanna dominaram o cenário musical. O disco todo co-escrito e co-produzido pela artista é vibrante e inquieto na maneira como ataca tópicos diversos, e o resultado é uma coleção de manifestos que toca em questões delicadas como ambientalismo, racismo, pacifismo e vício sem rodeios, usando um tema urbano que interliga as canções como facetas de uma mesma metrópole, a amada Nova York de Keys.
A produção do marido da cantora, Swizz Beatz, ao lado principalmente de Mark Batson, ajuda a criar essa ambientação, especialmente nas primeiras faixas. “Pawn it All” usa um genioso riff de piano para criar o refrão, curiosamente composto em uma melodia grave que prende a voz de Keys, mas dá à canção uma inconfundível assinatura hip hop. Na “canção-dupla” “She Don’t Really Care/1 Luv”, o piano dá lugar a um teclado eletrônico, enquanto Swizz Beatz cria uma batida suave sobre a qual Alicia narra a experiência de uma garota da periferia de Nova York. "Illusion of Bliss", uma balada de quebrar o coração sobre uma jovem viciada em drogas, explora a voz da cantora com precisão inédita até para os fãs – rugindo e alçando vôo ao microfone, ela cria uma memorável lamentação urbana contemporânea.
Os subtons de gospel na música de Alicia não foram embora, e nem poderiam, já que a grande virtude do Here é deixar que a artista encontre sua expressão mais pura. “More Than We Know” é um hino de elevação humana, e ajuda a fechar o disco com a igualmente tocante "Holy War", única sem o dedo de Beatz ou Batson na produção. Ao lado do produtor Illangelo, Keys cria uma complexa condenação acústica dos nossos tempos, que colocam “a guerra como sagrada, e o sexo como obsceno”, e de forma muito mais direta do que jamais fez em sua carreira, nos convida a destruir as barreiras entre nós, “blow by blow and brick by brick”.
Se a questão é relevância histórica, o Here provavelmente será uma nota de rodapé em 2016, o último nome adicionado pelos futuros estudiosos de música ao citar a avalanche de álbuns tratando sobre a experiência negra nos EUA que saíram no ano passado. De maneira imediata, no entanto, o disco representa uma evolução excepcional e uma expressão de franqueza rara no cenário musical, vinda de uma artista cuja relevância, talento e arte são essenciais para entender como chegamos a um lugar social e artístico em que mulheres negras tem esse espaço.
13)
KIN (KT Tunstall)
Lançamento: 09 de setembro
Selo: Caroline, Sony/ATV
Produção: Tony Hoffer
Duração: 46m14
por Caio Coletti
Após a divulgação do seu disco anterior, a pérola folk Invisible Empire // Crescent Moon, em 2013, KT Tunstall achou que sua carreira musical era passado. Com quatro discos de estúdio na bagagem, aproximando-se dos quarenta anos e recentemente divorciada, ela se mudou para a ensolarada Los Angeles a fim de perseguir uma carreira em composição de trilhas-sonoras. Dessa experiência de reconstrução completa, no entanto, surgiu o KIN, cujas tendências coloridas sem dúvida devem parte de sua inspiração à cidade vibrante que serviu de cenário para o premiado musical La La Land, também do ano passado. A Los Angeles de Tunstall, no entanto, não é a “cidade de estrelas” de Ryan Gosling e cia, mas uma de compromisso quase cruel com a realidade, e com a agridoce transformação que vem do contato com ela. No quinto disco da carreira, a cantora/compositora escocesa abraça o mundo, mesmo que ele não esteja disposto a abraçá-la – é um ato corajoso e exuberante, acima de tudo.
“What’s life but an opportunity to get somewhere else?”, ela nos pergunta na saborosa “Run on Home”, que serve como exorcismo final do relacionamento em que ela se via presa anteriormente. Sempre geniosa na composição das melodias, Tunstall encontra em versos cifrados e fluídos, que escapam de rimas tradicionais e dão a sua voz o poder de emprestar nuance às letras, a alma do KIN. Basta olhar para a faixa-título, que retorna às raízes do folk e adiciona um belo violino de acompanhamento enquanto a cantora versa sobre a paixão que a fez voltar para a música definitivamente, a mesma que inspira “Turn a Light On”, no comecinho do disco, um franco retorno à sonoridade power-pop do primeiro disco, Eye to the Telescope (ainda seu melhor).
Nos seus melhores momentos, Tunstall é uma grande artista porque deixa as emoções fluírem sem grandes arabescos pelo violão e pela voz, talvez uma das mais expressivas do pop da nossa era. KIN é sua consumação máxima justamente porque tem esse clima solto, mas nunca desleixado – créditos para o produtor Tony Hoffer, que sabe salpicar detalhes especiais em cada faixa. No dueto com James Bay, “Two Way”, por exemplo, um sintetizador áspero acompanha a voz dos dois cantores, casadas à perfeição para criar uma parceria sexy e romântica, bem no clima do álbum. Já em “Everything Has Its Shape”, um hino de paz, amor e aceitação, Hoffer estoura o som do violão, que evoluí em quase um teclado rítmico psicodélico, e enche a voz de Tunstall de ecos e batidas fortes no refrão.
Esse é o momento em que o KIN se torna mais épico, bem perto do final. Antes, é uma modesta elaboração musical com mensagens grandiosas escondidas atrás de uma entrega simples. Como crônica de mais uma fase da vida dessa cantora/compositora, para os fãs, ele é óbviamente valioso, mas encontra sua universalidade na forma como retrata um momento de reinvenção com delicadeza e otimismo, sem ignorar o medo e a mágoa que foi deixada para trás. Em suma, é um álbum tremendamente verdadeiro, e o sentimento é que a carreira de Tunstall sempre esteve caminhando em direção a ele.
12)
Long Live the Angels (Emeli Sandé)
Lançamento: 11 de novembro
Selo: Virgin
Produção: Emeli Sandé, Jonny Coffer, Chris Loco, Mac & Phil, Mojam, Naughty Boy, ProducerWez, Rachet, Shakaveli, TMS
Duração: 51m56
por Caio Coletti
Fãs de música costumam dizer que é muito mais difícil escrever um disco feliz do que um disco triste. Enquanto a tradição dos break-up albums é uma das mais amadas e preservadas do cenário musical, é difícil encontrar uma grande obra que reflita uma visão esperançosa ou otimista do mundo. Apesar de algumas faixas mais melancólicas, Long Live the Angels é a exceção que prova a regra, mostrando que a cantora/compositora britânica Emeli Sandé não é artista de um truque só. O disco é radicalmente diferente de sua estréia, o grandioso Our Version of Events, que nos apresentou uma Sandé à flor da pele, munida de power-ballads levadas pelo piano, e melodrama de primeira qualidade. Quatro anos depois, Long Live the Angels é muito mais sutil, deixando as habilidade excepcionais de Sandé na composição brilharem acima da produção, que passeia entre pacotes de cordas, corais religiosos, batidas simples e violões secos.
Três produtores ajudam Sandé a moldar o álbum: Chris Loco, o parceiro de longa data Naughty Boy, e a dupla Mac & Phil. Nas mãos do primeiro, o single “Breathing Underwater” se torna uma celebração única e inspiradora da vida pós-sucesso de Sandé, enquanto “Babe” fecha o disco com uma balançada e inesperada canção de pista de dança; o segundo cria baladas simples a partir da esperançosa “Happen” e da machucada “Shakes”, levadas por melodias delicadas suportadas pelo violão (no caso da primeira) e o piano (na segunda); e, por fim, Mac & Phil ajudam Sandé a reencontrar sua veia dramática em “Hurts” (abaixo) e “Every Single Little Piece”, além de criarem a mais intrigante mistura de soul e eletrônico do disco, a excelente “Lonely”, nossa favorita pessoal.
Como artista, fica óbvio em Long Live the Angels que Emeli Sandé é uma compositora antes de ser cantora. Apesar de sua versátil e elástica voz, a britânica prefere deixar as canções respirarem e guardar as ginásticas vocais para os momentos certos, nunca parecendo ansiosa para vender o impacto emocional de suas canções. Quando essa emoção surge (e frequentemente surge durante o disco), é de forma orgânica e inteligente, mais pelo conteúdo e forma do que pela expressiva entrega de Sandé nos vocais, sempre conectada com o significado de suas músicas. É refrescante ter uma vocalista assim conseguindo o nível de sucesso de Sandé, sinceramente – ela recompensa os ouvintes mais atentos, e mais pacientes, com uma riqueza lírica gigantesca.
Tematicamente, Long Live the Angels é um álbum que reflete tanto a separação de Sandé de seu marido desde 2012, o biólogo Adam Gouraguine, quanto o conto de Cinderela pelo qual essa inglesa de 29 anos passou durante os últimos anos, com a ascensão ao sucesso. O resultado é um disco que trata o coração machucado de sua autora com uma atitude positiva, ainda que não ignore as mágoas que vieram com ele – uma bela celebração da vida pelo que ela tem de mais agridoce, Long Live the Angels eleva também Sandé ao posto de uma das melhores contadoras de história que temos na música contemporânea.
11)
Blond (Frank Ocean)
Lançamento: 20 de agosto
Selo: Boys Don’t Cry
Produção: Frank Ocean, Buddy Ross, Francis Farewell Starlite, James Blake, Jon Brion, Joe Thornalley, Malay, Michael Uzowuru, Om’Mas Keith, Pharrell Williams, Rostam Batmanglij
Duração: 60m08
por Andressa Cruz
“Nunca fui tão iludida por um homem como fui pelo Frank Ocean”. Eu sempre me recordava (com um riso) dessa fanpage quando resolvia escutar channel ORANGE, o primeiro álbum do Frank Ocean lançado em 2012. De lá pra cá foram 4 anos de promessas e memes, muitos memes, sobre o seu próximo álbum.
Blonde veio para acalmar nossas expectativas, nos presenteado com um álbum visual chamado Endless e uma revista que completa a experiência multimídia. O álbum foge do R&B comum, já que nele podemos sentir elementos como guitarras elétricas e teclados que dão à obra uma característica futurista. Diferente de outros álbuns de hip hop lançados em 2016, Frank Ocean nos trouxe uma simplicidade que só ele poderia trazer.
Ocean é o porta-voz de uma geração de múltiplas vozes. Aos 28 anos, ele demonstra uma maturidade invejável quando fala sobre as mudanças nas relações humanas, consumismo, espiritualidade e sexualidade. Se para alguns os millennials são uma geração perdida, Frank consegue dialogar com essa galera cheia de dúvidas, questionamentos, incertezas, inseguranças e acesso à informação.
Blonde demonstra diversas influências em suas faixas. “Godspeed” apresenta elementos do gospel e soul music. “Pink+White”, um dos destaques do álbum, contou com a produção de Pharrell Williams e os vocais de Beyoncé. Já “Be Yourself” é como um sermão da sua mãe sobre não usar drogas, não ser influenciado pelos amigos e não ser outra pessoa além de si mesmo. “Nights” são duas canções em uma: a primeira parte apresenta uma rima mais agressiva contrapondo a segunda parte da música, que é um R&B mais bad vibes.
A obra necessita de um tempo para ser digerida. Suas letras, melodias e referências trazem individualidades que somente Ocean é capaz de nos presentear. Depois de Blonde, nos resta aguardar 4 meses ou 4 anos para o próximo álbum. As expectativas continuam altas, mas não queremos mais ser iludidos.
10)
For All We Know (Nao)
Lançamento: 29 de julho
Selo: Little Tokyo Recordings
Produção: GRADES, John Calvert, Nao, LOXE, A.K. Paul, ST!NT, Jungle, Christian Gregory, Miles James, Royce Junior
Duração: 53m39
por Caio Coletti
For All We Know é a mais bela tapeçaria das muitas vertentes, influências e texturas da música R&B de 2016. Experimental, ousada e infinitamente fascinante em suas elaborações musicais, a artista britânica NAO, além dos belos vocais esganiçados, tem mão na produção de 15 das 18 faixas do álbum, ao lado de gente de calibre como GRADES, John Calvert e companhia. De forma claramente carinhosa, a artista molda um álbum que se aproxima do R&B contemporâneo e arrastado de gente como FKA Twigs e Frank Ocean, ao mesmo tempo em que se destaca por trazer um toque de funk e música eletrônica para os procedimentos. For All We Know, seu álbum de estreia, abre com três deliciosas faixas balançadas, que já dão o tom do disco: a mistura aqui é entre sintetizadores relaxantes e baixos fortes, com eventual intervenção de guitarras sintetizadas – "Get to Know Ya", a genial “Inhale Exhale” (uma preferida pessoal) e a disco "Happy" apresentam NAO como uma artista inconfundivelmente contemporânea e excitante, mas capaz de fazer reverência a gente como Mary J. Blige e Donna Summer.
O curioso é observar quão inquieta NAO também pode ser, e como isso se refletiu positivamente na sua estreia em estúdio. Após um breve interlúdio, For All We Know segue em uma tangente inesperada, explorando outros cantos do R&B, por muitas faixas abandonando o suíngue funkeado que nos foi apresentado no começo. "Adore You" é uma suave exploração romântica levada por sintetizadores que esbarram no dream-pop, mas que também não estariam fora de lugar na tracklist de um álbum de Rihanna, por exemplo. Seu oposto temático, que marca também a virada do disco em termos líricos, é “In the Morning”, a confusa confissão de uma amante que não se sente mais atraída pelo companheiro (I need him in the evening/ And I need him more at night/ But when I wake to see him/ He’s not even on my mind).
A partir daí, o disco interpola suplícios puramente sexuais (ainda que no estilo meramente insinuante que virou moda no R&B moderno) com contos cínicos – no bom sentido – de auto-afirmação. Tematicamente, For All We Know é um disco suavemente romântico que encontra certo realismo e um senso de completude quando vê o mesmo relacionamento sobre o qual canta terminar. Musicalmente, é incansávelmente inventivo, passando pelas curiosas guitarras de “Trophy” e por "DYWM" (sigla para “Do You Want Me?”), que transforma uma baladinha levada por violão em uma deliciosa canção disco, com direito a pacote de cordas e viradas rítimicas.
O final do disco é guardado para as canções mais delicadas moldadas por NAO e seus produtores. Embora sutileza seja o forte do álbum, nada é tão quietamente belo quanto “Blue Wine”, que confia em um piano grave e em harmonias vocais para criar uma das baladas mais tocantes do ano; nem tão espetacularmente sexy quanto “Feels Like (Perfume)”, um pequeno épico de 5 minutos encrustado em um álbum bastante modesto, mas cheio de detalhes e dono de excelência e visão artística únicas.
9)
Death of a Bachelor (Panic! At the Disco)
Lançamento: 15 de janeiro
Selo: Fueled by Ramen, DCD2
Produção: Brendon Urie, Jake Sinclair, JR Rotem, Imad Royal
Duração: 36m06
por Henrique Fernandes
Uma coisa é certa: Death Of A Bachelor é poderoso. É um álbum coeso e de fácil audição, e de “Victorious” até “Impossible Year”, o Panic! At The Disco conseguiu entregar uma mistura interessante de tudo que já havia lançado sem parecer nostálgico. Nele não vemos mais a audácia que colocou Pretty. Odd. no mercado, mas também não vemos o medo do fracasso presente em Vices & Virtues. É o material mais seguro lançado até hoje, mas sem deixar de ser ambicioso como todos os trabalhos anteriores.
O primeiro single do 5º álbum de estúdio do Panic! At The Disco saiu quase 10 meses antes do lançamento do mesmo. “Hallelujah” deu as caras ainda em 2015 para anunciar que o Panic mostraria mais uma faceta da sua versatilidade no disco que viria a seguir. Aqueles que acompanham a banda desde o aclamado primeiro álbum, A Fever You Can’t Sweat Out, já estão acostumados com constantes mudanças: apenas Brendon Urie resta da formação original e todos os CDs são de sonoridades bem diferentes.
De “Hallelujah” até janeiro deste ano, foram muitas entrevistas sobre como o sucessor de Too Weird To Live, Too Rare To Die soaria como uma mistura de Frank Sinatra e Queen, com influências de outras coisas que Brendon Urie gostava, que vão de punk ao hip-hop. Os fãs ficaram confusos, mas, quando finalmente foi lançado, Death Of A Bachelor não decepcionou e teve uma boa recepção entre críticos e, principalmente, fãs.
Ao longo da carreira, Brendon aprendeu a usar melhor sua voz, e nesse álbum cresceu e melhorou junto com as produções da banda. A cada disco, mais e mais elementos são usados, e o excesso que poderia ser um erro conseguiu ser um acerto. Corais, muitos instrumentos de sopros, sintetizadores, guitarras fortes, samples famosos e a potência vocal de Urie misturados viraram um ponto positivo desse CD – “House of Memories” talvez se destaque como uma das melhores da banda, e merece um bom fone de ouvido para conseguir perceber todas as camadas e detalhes dessa poderosa produção.
Ainda assim, os trinta e seis minutos que compõem o disco seguem uma boa linha e caminham por esses exageros (como “Victorious”, “Don't Threaten Me with a Good Time” e “Golden Days”) sem deixar de mostrar que, às vezes, o menos é mais – vide “Impossible Year”, inspirada em Sinatrha, e “Death Of A Bachelor”, que, segundo Brendon Urie, também tirou inspiração de “Drunk in Love”. Sim, aquela da Beyoncé.
É interessante falar como os fãs sempre pediram do Panic mais um pouco do que o primeiro CD da banda trouxe e eles finalmente foram atendidos. Aqui, o debut recebeu uma bela homenagem em “Crazy=Genius”, que tem a alma vaudeville que o A Fever You Can’t Sweat Out carrega, mas mostra a evolução de uma década do artista. “LA Devotee” (abaixo), uma das melhores do disco, poderia estar na tracklist do CD anterior, Too Weird To Live, Too Rare To Die, que não estaria perdida. É uma prova que Urie conseguiu fazer uma boa mescla do repertório já conhecido pelo público.
É um fato que depois que o Panic! At The Disco virou o nome de um projeto solo do vocalista, as composições se tornaram muito mais pessoais. O próprio nome do álbum deixa explícito sobre o que ele fala: a morte de um solteiro. A vida de casado, como um relacionamento pode mudar as pessoas, são temas abordados, ao mesmo tempo em que amores antigos e sentimentos que só a vida adulta pode trazer aparecem nas letras.
É um mérito que Brendon Urie tenha conseguido se estabelecer no cenário pop sozinho e principalmente se consolidado como uma banda pop de destaque que nasceu no cenário emo da década passada. Se no disco anterior o frontman ainda estava aprendendo a colocar sua vida e influências pessoais nas músicas da banda, aqui ele acertou entregando um disco que tem a alma teatral e inesperada que o nome Panic! At The Disco carrega, mas também traz a maturidade de um homem casado que já não é mais o jovem rebelde e com lápis de olho de “I Write Sins Not Tragedies”.
8)
Blackstar (David Bowie)
Lançamento: 8 de janeiro
Selo: ISO, RCA, Columbia, Sony
Produção: David Bowie, Tony Visconti
Duração: 41m17
por Nathalia Nasser
Um dia antes do lançamento do vigésimo quinto álbum de estúdio de David Bowie, a Pitchfork descreveu o ícone pop sem saber o que viria três dias depois: “David Bowie morreu tantas mortes, e ainda assim continua conosco”. Antes de partir – de vez –, o lado A de Ziggy Stardust presenteou o mundo e, iconicamente, os fãs, com um álbum compacto de sete faixas e mágicos 41 minutos.
Os rumores no fim de 2015 sobre um álbum com fortes referências e aparições do jazz foram confirmados no lançamento do Blackstar, quando o camaleão completou seus 69 anos. Depois de inúmeras reinvenções, Bowie se debruçou no gênero e se despiu num personagem cru e puro, talvez o mais perto de si mesmo que chegou nos últimos anos.
Todos os sinais – a nomenclatura do álbum, o clipe de “Lazarus” (abaixo) e sua composição óbvia – foram insuficientes para o entendimento de que o Blackstar foi, sim, o canto do cisne. Se seu álbum anterior representou sua desaparição como ícone pop, sua obra final pode facilmente ser lida como sua desaparição final.
As estrelas continuam presentes em sua obra. Ao longo da carreira, Bowie discorreu diversas vezes sobre a esfera de plasma de forma literal, poética e principalmente metafórica. Utilizá-la mais uma vez para dizer adeus ao planeta – fazendo ainda referência à sua própria doença – foi mais uma de suas manobras artísticas magistrais.
Se despedir do rock obrigou Bowie a repensar a forma de fazer música, e, portanto, se despedir dos músicos que estiveram por perto nos últimos vinte anos. Ter álbuns como To Pimp A Butterfly como influência assumida obrigou Bowie a caminhar por outros lados. Resultado: músicos quase anônimos participaram da obra final do camaleão, que os selecionou a dedo ao explorar pubs de Londres nos meses antecedentes à produção do álbum. De velhos conhecidos, apenas Tony Viscontti, co-produtor, e James Murphy deixaram seus toques no álbum.
A faixa título e inicial do álbum é a escarrada profecia de sua morte. O tom angelical e delicado ao meio da canção de nove minutos – uma verdadeira viagem pelas diversas caras do jazz – lembra faixas como a minuciosa b-side dos Smiths, “Asleep”. Faixas que tratam a morte com plenitude, transcendência e delicadeza.
“Tis A Pity She Was A Whore” e “Sue (Or In a Season of Crime)” são demos produzidas pelo menos dois anos antes do lançamento do álbum – faixas que foram amplamente reajustadas e trabalhadas com a banda completa no estúdio. Ambas ganharam uma versão magistral e toques intensos de sofisticação durante a produção. “Sue (Or In a Season of Crime)”, que já existia grande desde 2014, se diferencia no toque agressivo e forte em meio aos instrumentos meticulosamente calculados das outras faixas. Quase como a voz de Lennon em meio às composições delicadas de McCartney e guitarras calculadas de Harrison nos primeiros discos dos Beatles. A abertura dada aos fãs até nas pequenas suposições é mágica. Em “Tis A Pity”, os suspiros iniciais e a icônica frase Man, she punched me like a dude! foram alvo de discussões intensas: “she” seria a sua doença? Desde quando ele sabia?
Bowie retoma a conversação com a morte e as óbvias referências à sua doença em “Lazarus”, último single da carreira. A composição e clipe são quase um só e convidam o ouvinte a viajar com o artista para seus momentos antigos em cidades americanas, até os momentos finais, quando a morte o liberta e ele pode ser livre, just like that bluebird.
“Girl Loves Me”, faixa trabalhada de maneira desconexa com o restante do álbum, é o início da agressividade terminada em “Dollar Days”. A canção, mais falada do que cantada – referências fortes ao To Pimp A Butterfly aqui – questiona: where the fuck did Monday go?, abrindo pauta para todas as discussões possíveis sobre o dia de sua morte e a possível falta de noção do tempo nos últimos meses de vida. A faixa conta com gírias do dialeto inventado em Laranja Mecânica, cenário caótico e destrutivo para os seres humanos. “Dollar Days”, balada que segue, parece ficar escondida em meio a canções fortes, impactantes e proféticas – enaltecida alguns dias depois do lançamento do álbum. É melancólica, crua, espontânea e brilhante.
A despedida vem com “I Can’t Give Everything Away”, continuação melódica de “Dollar Days”. A não desconexão entre as músicas suaviza a despedida, tal como o “Blackstar” a amorteceu (ou acentuou, para alguns). O título da canção é autoexplicativo: num cenário expositivo, Bowie não se expunha em todos os níveis há quase 15 anos. E terminaria assim, discreto. Com a mais destrutiva doença dentro de si, David Bowie encerrou sua carreira com um masterclass de calculismo, profecia, sofisticação e resgate em um álbum que durou até, literalmente, sua última batida.
7)
The Altar (Banks)
Lançamento: 30 de setembro
Selo: Harvest
Produção: Tim Anderson, The Anmls, Ben Billions, Danny Boy Styles, DJ Dahi, Aron Forbes, John Hill, Al Shux, Sohn, Chris Spilfogel
Duração: 44m54
por Caio Coletti
Talvez a grande poeta da sobriedade sofisticada de toda uma geração de apreciadores de música alternativa, Banks chega ao segundo álbum muito mais madura, eclética e fascinante do que foi no primeiro. A sensualidade dura e melancólica da artista continua marcando as composições, mas o The Altar é muito mais álbum do que o Goddess, no sentido que combina influências e sutilezas para formar um universo musical muito mais próprio. Mesmo as quatro primeiras faixas, que mais evocam a Banks do disco anterior, são cheias de detalhes e heterogêneas – “Lovesick” flerta com o pop adolescente com sua letra apaixonada; a crua e genial “Fuck With Myself” (abaixo) é a primeira declaração de confiança feminina de um álbum cheio delas; e a dupla “Gemini Feed” e “Mind Games” aproveita refrões gigantescos para destrinchar sem dó uma relação abusiva. Qualquer artista que possa conter multidões em tão poucas faixas, já no início de um disco, chama a atenção – e a partir daí Banks não decepciona.
A artista encontra em The Altar uma reafirmação própria que vai além da declaração de poder de Goddess, porque passa por um local muito específico de dor e dúvida antes de chegar lá. Banks fala de relacionamentos em que não conseguia se libertar de um cículo vicioso de violência e manipulação, mas sempre de uma posição superior, em que consegue ver quão fundamentalmente patético era seu ex-companheiro. Sua genialidade como compositora, ao menos no The Altar, mora nessa contradição de poder e entrega, na forma como usa as linhas melódicas para tecer versos complexos, e trabalha com seu time de produtores para encaixá-los em uma emulação de gênero sempre surpreendente.
Vide a incrível sequência de quatro faixas que marca o meio do álbum: “Trainwreck” é um hip-hop de primeira, furioso em seu conteúdo lírico e na entrega da cantora aos versos; “This is Not About Us” vira o jogo ao encarnar o R&B dos anos 2000 dentro de um contexto de produção tremendamente contemporâneo; “Weaker Girl” é uma poderosa trova de reafirmação pós-relacionamento, com seu refrão libertador (I’mma need a bad mutherfucker like me); e “Mother Earth” reverte expectativas ao trazer uma Banks sem filtro vocal cantando sobre união feminina, dançando com a voz ao redor de um dedilhar de violão. Só a maturidade é capaz de dar a uma artista a coragem de sair de sua zona de conforto tão frequentemente dentro de um mesmo álbum.
Com The Altar, Banks aparece como uma das mais talentosas e importantes cantoras/compositoras da nova geração, efetivamente superando seu disco de estreia com uma obra completa, interminavelmente criativa e definitivamente relevante, musical e socialmente. O final frágil do álbum, com a belíssima balada de piano “To The Hilt” mostra que, para Banks, fazer música é tirar poesia dos cantos mais fundos da alma – se continuar se cercando das pessoas certas, essa californiana de 28 anos ainda vai criar versos inesquecíveis.
6)
Joanne (Lady Gaga)
Lançamento: 21 de outubro
Selo: Streamline, Interscope
Produção: Lady Gaga, Mark Ronson, Jeff Bhasker, BloodPop, Emile Haynie, Josh Homme, Kevin Parker, RedOne
Duração: 39m05
por Caio Coletti
O trabalho pop de Lady Gaga sempre foi baseado em binários. Basta pensar na dualidade The Fame/The Fame Monster, que explora lados diferentes da obsessão pela celebridade e pela auto-idealização; ou no Born This Way, que levava adiante essa ideia ao sobrepor um senso de destino (“Eu nasci assim”) com um de reinvenção própria; no ARTPOP, a junção de conceitos do título se repetia no álbum, que criava pares de músicas (pense “Fashion” e “Donatella”, por exemplo) analisando dois lados da mesma paixão/obsessão. Quando finalmente chegamos ao mais recente disco, a dualidade representada pela cantora é tão óbvia que fica estampada na capa: Lady Gaga / Joanne. Fãs devem saber que, além de ser o nome do meio da cantora (Stefani Joanne Angelina Germanotta), o título do álbum serve como homenagem a uma tia de Gaga que faleceu durante a adolescência da cantora, deixando profundas marcas em sua personalidade. Esse luto e essa revelação pessoal ficam evidentes no álbum, especialmente na bela faixa-título, com a linha melódica mais geniosa entre as baladas da carreira de Gaga – levada pelo violão, “Joanne” lamenta a partida da tia da cantora com a serenidade adquirida com o tempo, mas o luto que ele não consegue apagar. Essa Lady Gaga genuinamente entregue a baladas sinceras influenciadas pelo country, no entanto, é apenas uma faceta pública do trabalho realizado no disco.
A habilidade que Lady Gaga realmente dominou do jogo pop, e que a coloca anos-luz à frente de outras divas da sua geração, é a linha fina entre honestidade e cinismo em que esse tipo de música sempre precisa andar. Por natureza, o pop é uma forma de arte “espertinha”, que brinca com a percepção do receptor e ressignifica símbolos para passar uma mensagem escondida nas entrelinhas, sempre presumindo que nós nunca teríamos a audácia de procurá-la (em grande parte porque o exterior superficial da obra é tão atraente). Gaga nos dá pedaços de si mesma com generosidade, encarnando a trovadora folk em "Sinner's Prayer" e a diva soul ao lado de Florence Welch em “Hey Girl”, que brilha com seus sintetizadores e sua mensagem de empoderamento e amizade marcantemente feminina. Ao mergulhar em estilos e discursos tão tradicionais (e tradicionalmente americanos, diga-se), Gaga busca uma credibilidade que parecemos só dar para quem segue esse caminho de “prestígio” fácil.
O bacana de ouvir essas faixas é saber que Gaga não as faz de forma puramente mercadológica – sua paixão por essas formas de expressão musical é antiga e bem documentada. Afinal, essa é a diva pop que gravou um álbum de duetos de jazz com uma lenda viva do gênero e venceu um Grammy no processo. Country, soul e folk já viviam na expressão mais cosmopolita dos discos anteriores da cantora, distorcidos por uma alma rebelde, jovem e inquieta que, como o título do álbum indica, foi em parte subtituída pela sábia calmaria de uma alma antiga que vive dentro de Gaga. É aí que entra a dualidade, que fica clara quando ouvimos “John Wayne”, “A-YO” ou “Dancin’ in Circles”, experimentos musicais tão perigosos quanto qualquer coisa que Gaga tenha feito no passado – nas duas primeiras músicas, as guitarras country e as letras “safadinhas” encontram um groove essencialmente eletrônico, em parte provido pelo produtor BloodPop; em “Dancin’ in Circles”, a letra (que é, inclusive, sobre masturbação) é bem aproveitada por uma produção que resvala em ritmos caribenhos e até brasileiros.
Poucas vezes um lead single definiu tão bem o seu álbum quanto “Perfect Illusion” (abaixo), um rock n’ roll com tendências eletrônicas que coloca Gaga para celebrar e criticar, ao mesmo tempo, a cultura digital de consumo e os sentimentos exacerbados e imediatos que ela desperta. Mesma cultura, aliás, que levou ao surgimento de críticas duras à sua produção artística – quando Gaga fazia sua arte de forma apaixonada e “livre”, era vista como uma pária esquisitona e diminuída à posição de “só mais uma popstar”, com todas as limitações que a indústria machista coloca a esse tipo de artista; quando resolveu se legitimizar ao partir para explorações musicais diferentes, enfrentou a ira dos fãs e as acusações de inautenticidade. Em Joanne, ela se reencontra como uma malabarista habilidosa, que é capaz de assumir sua excentricidade e comandar respeito por seu puro talento.
Em uma era que simplifica tanto a significância de cada artista ao ponto de transformá-los em símbolos abstratos, Gaga nos vendeu algo singelo e clean para nos dar algo muito mais complicado (e fascinante). Ou, em outras palavras: “It wasn’t love, it was a perfect illusion”.
5)
HOPELESSNESS (Anohni)
Lançamento: 6 de maio
Selo: Secretly Canadian, Rough Trade, Hostess
Produção: Anohni, Hudson Mohawke, Oneohtrix Point Never, Paul Corley
Duração: 41m39
por Caio Coletti
Nós não vemos um álbum como Hopelessness no cenário musical há muito tempo, especialmente no ambiente pop. Anohni, anteriormente vocalista do grupo Antony and the Johnsons, se refere ao disco como sua transição de “gestos opacos e ilusórios” para uma abordagem mais direta de temas (políticos) que considera importantes. No processo, a cantora e compositora criou um álbum de protesto com o espírito de Joni Mitchell e das antigas músicas soul, mas a estética do synthpop poderoso que aprendemos a apreciar nos últimos anos da música independente. Anohni faz tudo com a ajuda de dois produtores: o queridinho do hip-hop Hudson Mohawke e o guru do experimental Oneohtrix Point Never (OPN, para encurtar). A equipe limitada deu à luz ao Hopelessness, um álbum sóbrio e elusivo, mas também surpreendentemente acessível e recheado de ganchos melódicos grudentos, levados pela voz impositiva e lírica de Anohni, que sempre foi excepcional em esconder profundidades e complexidades sob uma superfície polida.
O conteúdo lírico do álbum é tão explosivo que às vezes é fácil esquecer sua qualidade musical. Em “Obama”, a linha melódica repetitiva é cercada por sintetizadores infinitamente inventivos, que rodopiam ao redor dos versos entoados com paciência por Anohni sobre a desilusão liberal com o presidente Barack Obama. “Execution” tem o melhor gancho pop do álbum, genialmente construído sobre tons leves e uma batida expediente enquanto Anohni canta sobre a barbárie da pena de morte, da qual os EUA são um dos últimos proponentes no mundo todo. Na angustiante e comovente “Crisis”, a batida pesa para ouvir a cantora lamentando a violência americana no Oriente Médio e como ela gera, em muitos sentidos, a retaliação terrorista que nos coloca em constante estado de alerta.
“Watch Me” ganha clima de R&B arrastado nas mãos do produtor Hudson Mohawke, e a letra venenosa sobre espionagem governamental é apimentada por um gancho irônico que brinca com o conceito de Big Brother do livro 1984; enquanto isso, “I Don’t Love You Anymore” pode ser lida como uma rejeição romântica ou mais profunda, social, em que Anohni canta a partir de experiência própria como mulher transexual e como agente de indignação acerca dos males do mundo. Hopelessness trabalha com níveis de discurso completamente diversos durante suas 11 faixas – “Drone Bomb Me” (abaixo) é escrita do ponto de vista de uma criança do Oriente Médio, por exemplo –, e é aí que mora seu triunfo.
Escrito a partir de um sentimento raivoso justificado, o álbum é tão coeso musicalmente como importante em um sentido político. Nas mãos de Anohni, a música é válvula de escape e palanque, local egocêntrico de externar frustrações e bem comunitário de reflexão social. Em concordância com seu título (que se traduz como “Falta de Esperança”), a mensagem de Hopelessness é que estamos perdidos para além de qualquer possibilidade de resgate – através de sua arte, no entanto, Anohni nos mostra que há uma consciência e força que podemos obter uns dos outros.
4)
Starboy (The Weeknd)
Lançamento: 25 de novembro
Selo: XO, Republic
Produção: Doc McKinney, The Weeknd, Ali Payami, Ali Shaheed Muhammad, Ben Billions, Benny Blanco, Bobby Raps, Boaz van de Beatz, Cashmere Cat, Cirkut, Daft Punk, Daniel Wilson, Diplo, Frank Dukes, Jake One, Jr Blender, King Henry, Labirinth, Mano, Max Martin, Metro Boomin, Prince 85, Sir Dylan, Swish
Duração: 68m40
por Caio Coletti
A parceria entre The Weeknd e Lana Del Rey sempre me intrigou (os dois fizeram “Prisoner”, do disco anterior do cantor, e mais algumas músicas nesse novo álbum), mas foi só ao ouvir Starboy que eu entendi como esses artistas tão díspares se conectavam. A verdade é que ambos fazem parte do mesmo discurso, ainda que em níveis completamente diferentes – Lana, como personagem, é aquilo que The Weeknd transparece como artista genuíno, e por isso os comentários e trânsitos dos dois pelo discurso pop da atualidade, e pela mentalidade de toda uma geração que os escuta, se tornam tão complementares. Em “Stargirl”, interlúdio desse álbum de The Weeknd, os dois fantasiam uma união sexual que reflete essa união artística, em discursos separados que se completam.
Como álbum, Starboy não pode ser confundido com mais do mesmo – é uma evolução natural do Beauty Behind the Madness, disco anterior de The Weeknd, no sentido em que amadurece seus temas e lida com o fantasma da fama e da notoriedade. Na faixa-título (abaixo), o artista cinicamente acusa o ouvinte de arrastá-lo para uma vida destrutiva, postergando as admissões de culpa próprias para mais tarde no álbum, especialmente na fantasmagórica “Ordinary Life”, que, com seus sintetizadores opressivos e ritmo arrastado, mais diretamente lembra as fases iniciais da carreira de The Weeknd.
Quando não está batalhando com a própria fama, o artista reflete a separação com a supermodelo Bella Hadid, interpolando seu típico niilismo romântico, em faixas em que se gaba das conquistas e de seu desapego emoroso, com baladas machucadas que trocam acusações entre si. A deliciosa “Secrets” usa um sample de “Talking In Your Sleep”, dos The Romantics, para trazer um clima oitentista que vai até ao registro grave de The Weeknd, lembrando um mais eslático Rick Astley. A desconfiança da traição da parceira continua em “True Colors”, que por sua vez empresta um clima de R&B do começo dos anos 2000, epertamente contrastante à outra faixa, que vem logo antes.
Para os momentos mais francamente pop ele salva a influência de Michael Jackson, que fica óbvia no registro agudo do cantor em canções lotadas de ganchos, como a dobradinha “Love to Lay” e “A Lonely Night”, que contrasta histórias em que a atitude de desapego vem ora do homem, ora da mulher da relação. Starboy parece mostrar um momento em que The Weeknd questiona suas atitudes românticas, e a carga sexual que víamos em Beauty Behind the Madness acaba ficando nos detalhes, no segundo plano das elaborações líricas do álbum. O conflito é exemplificado em “Attention”, em que recrimina a atitude carente de sua parceira, e em “Die for You”, um desesperado e confiante bravado pelo retorno desse mesmo objeto de afeição.
Talvez o maior símbolo do Starboy como um álbum de transição pessoal para The Weeknd seja a faixa que o encerra, “I Feel it Coming”, uma ode romância a um amor paciente e recompensador, injetada com uma produção ensolarada pelo duo Daft Punk. É quase como se o artista nos empurrasse pelos cantos mais escuros de sua mente, sem pedir desculpas por eles, e chegasse ao final em uma daquelas belas manhãs que costumam seguir as noites mais tenebrosas. Como jornada emocional e parte da trajetória de um dos artistas mais importantes de sua geração, Starboy é essencial – como álbum, é absolutamente irrepreensível.
3)
Anti (Rihanna)
Lançamento: 28 de janeiro
Selo: Westbury Road, Roc Nation
Produção: Rihanna, Fred Ball, Jeff Bhasker, Boi-1-da, DJ Mustard, Frank Dukes, Fade Majah, Glass John, Kuk Harrell, Hit-Boy, Daniel Jones, Brian Kennedy, Mitus, No I.D., Kevin Parker, Chad Sabo, Mick Shultz, Travis Scott, Scum, Robert Shea Taylor, Timbaland, Twice as Nice, Vinylz
Duração: 43m46
por Gabryel Previtale
Rihanna deveria ganhar um prêmio por disco mais misterioso de 2016. Depois de 4 anos sem lançar álbum novo, desde 2012 com Unapologetic, a cantora de Barbados parecia enfrentar dificuldades para lançar sua nova obra, o Anti, que finalmente saiu em 2016, e trouxe certezas de que era a obra de uma excelente artista, mas também questionamentos da mensagem que a mesma estava passando com aquele CD. Teve gente saindo e entrando das colaborações em algumas faixas, uma polêmica aqui e ali. Com muitas especulações e atrasos, Rihanna começou a apostar em uma publicidade pesada e misteriosa, quem acompanhou lembra dos teasers, puzzles, posters e tudo que tinha direito - ela movimentava e mexia com as expectativas dos fãs. Ninguém sabia o que estava por vir e quando veio, bem, muitos ficaram sem entender qual era a proposta do seu novo trabalho.
De fato, muitos queriam entrar na cabeça da cantora para entender as referências e nuances desse novo disco, e houve desapontamentos de uma parcela de fãs que aguardava algo mais tradicional do pop/hip-hop que Rihanna até então havia explanado durante sua carreira. Só o tempo dirá se o Anti é um divisor de águas na discografia da cantora, mas ele é uma afirmação da sua evolução como artista. Das vezes que cantoras pop tentaram fazer o alternativo ser popular, conseguimos dois resultados: ou são discos confusos e resumidamente ruins ou são obras complexas e com qualidade acima da média. Anti claramente está na segunda categoria.
Vale lembrar que, antes do lançamento, Rihanna estava tentando emplacar algo mais alternativo e distante do seu estilo, vemos isso na parceria com Kanye West e Paul McCartney (mais ou menos parceria, já que o ex-Beatle só tocou violão) “FourFiveSeconds”, pela até bem recebida “Bitch Better Have My Money” ou pela quase desconhecida “American Oxygen”. Percebia-se que o novo disco da Riri não estava lá muito certo.
Eu diria que se Rihanna fosse uma chefe de cozinha, seus discos anteriores vinham em forma de fast-food, e então com seu último trabalho ela quis servir algo mais refinado, uma cozinha contemporânea. A gente gosta de fasf-food, mas é bom saber que nossa artista favorita consegue elevar seus padrões e expandir sua criatividade musical.
O Anti é composto por 13 faixas na versão padrão, passeando por vibes diferentes, mas que se conversam e deixam o álbum redondo no final. As faixas são muito individuais e particulares, criando um climinha intimista, como se a cantora e o ouvinte trocassem segredos. O álbum abre com “Consideration”, parceria com SZA e uma das melhores do disco; depois temos “Kiss it Better” (abaixo), com um tema meio oitentista, com muita guitarra; “Work”, seu lead single, tem muitos blips de sintetizador que deixam a faixa uma das mais dançantes do álbum; alguns interlúdios experimentais como “Woo” e “James Joint” quebram as faixas dançantes, trazendo o disco pro chão e ficando mais sóbrio. “Desperado” é uma faixa muito boa e divertida musicamente, que brinca com estilo moody-rock; em “Never Ending”, a junção de instrumentos da bateria com o violão parece fazer referência a Dido - junto com “Same Ol’ Mistakes”, é quando o disco se abre para a compreensão do ouvinte.
Não posso deixar de escrever sobre a minha parte favorita do álbum, que é essa trilogia no final do disco: “Love On the Brain”, para mim, é a melhor faixa, bem emocional, vocal limpo, influências de Aretha Franklin e um R&B descarado; “Higher” é a música em que Rihanna mostrou mais da sua ginástica vocal, não lembro de outra faixa na sua carreira em que ela usa seus registros dessa maneira; por último, a balada melancólica “Close to You” que faz o clima ir se fechando e o disco adormecendo. No geral, ANTI não era o que todo mundo estava esperando, mas é o trabalho mais autêntico de Rihanna, e merece ser valorizado não só pela estética diferente, mas pela honestidade e coragem de uma artista (já reconhecida) que lança algo fora do que parecia ser sua zona de conforto e se remonta musicalmente a cada trabalho.
2)
Long Way Home (Lapsley)
Lançamento: 4 de março
Selo: XL Recordings
Produção: Lapsley, Rodaidh McDonald, James Draper, Paul O’Duffy, ROMANS, Tourist, Mura Masa
Duração: 41m00
por Caio Coletti
A britânica Holly Lapsley Fletcher, de apenas 20 anos, é uma daquelas artistas das quais o ouvinte, aos poucos, sempre se acostuma a esperar o inesperado. Após alguns EPs e o sucesso relativo do single “Hurt Me”, ela finalmente pode explorar seu potencial no disco de estreia Long Way Home, e o resultado não decepciona quem se acostumou com as idiossincrasias de Lapsley ou é capaz de se encantar por elas aos poucos. Desde a faixa de abertura, “Heartless”, fica claro que essa não é uma compositora pop normal – Lapsley usa os chavões do gênero, e a produção eletrônica, para construir quase artesanalmente melodias surpreendes, com refrão acelerado e versos intrincados que se derramam uns sobre os outros enquanto Lapsley usa o registro elástico e expressivo para falar de relacionamentos complexos. Em “Cliff”, a história é sobre a paixão por um rapaz que sofre de uma doença mental não identificada, sentimento traduzido em uma bela metáfora – Lapsley, a narradora, está no topo de um penhasco, enquanto ele está a mercê das ondas lá embaixo.
A cantora costura poesias similares sobre um outro relacionamento de tons abusivos em “Station” e “Tell me the Truth” (In a small place, you changed me/ In a crowded place, you isolated me). Na primeira, gravada antes da fama, Lapsley usa a produção para distorcer a própria voz e criar um “dueto” consigo mesma, em que a voz mais grave (representando o ponto de vista masculino) expressa seu desdém pelo relacionamento sobre uma batida seca, enquanto a voz natural de Lapsley repete um verso de devoção: I could walk you back to the station. Já em “Tell me the Truth”, a parceria com o produtor Paul Steveley O’Duffy, repetida com resultados similares em “Silverlake”, dá tintas de R&B à linha melódica peculiar da cantora, explorando a sua voz como nenhuma das outras faixas do disco.
O clima minimalista que permeia o disco, especialmente faixas como “Falling Short”, “Painter (Valentine)” e “Leap”, mostra que Lapsley confia em seus instintos, e um deles é o amor pela repetição do eletrônico expressivo de gente como Moby e Rudimental. Funciona na medida que a cantora imbui cada verso repetido com um sentimento intenso que só pode ser absorvido, junto com a batida e a instrumentação, através dessas repetições. Lapsley cria mantras significativos com recursos limitados de dar gosto à onda de R&B minimalista e arrastado que vivemos atualmente, suportada por gente do calibre de Frank Ocean e FKA Twigs.
Lapsley não é prodígio de um truque só, no entanto, e o Long Way Home está carregado de surpresas. Na deliciosa “Operator (He Doesn’t Call Me)”, sai de cena o instrumental seco das outras canções para dar lugar a uma produção disco impecável, completa com pacote de cordas e sample de música gospel (confira a original aqui), resultando em uma das mais vibrantes músicas de pista de dança do ano. Enquanto isso, “Love is Blind” (abaixo) encontra uma Lapsley de potência vocal impressionante e honestidade tremenda cantando sobre harpas, sintetizadores e percussões que remetem ao Florence + The Machine sem sacrificar a identidade da cantora, que é única demais para ser suprimida.
Doído, verdadeiro e jamais entediante, Long Way Home é o nascimento de um talento pop especial, sobre o qual continuaremos falando por muitos anos ainda.
1)
I Like it When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It (The 1975)
Lançamento: 26 de fevereiro
Selo: Dirty Hill, Interscope, Polydor, Vagrant
Produção: Mike Crossey, George Daniel, Matthew Healy
Duração: 73m55
por Nathalia Nasser
O álbum do ano d’O Anagrama foi um presente do The 1975 para o mundo pop logo no pontapé inicial de 2016. A sinceridade que permeia o disco é tão visível e palpável quanto sua ousadia. Para o frontman Matty Healy, é quase uma vingança estar bem posicionado nas críticas musicais do mundo todo depois de sua banda ser considerada a pior do mundo em 2014 pela mesma NME que tem como capa da última edição a “chart-topping band” do ano. Seu debut album – e principalmente seus EPs – tentavam dizer desde 2012: o jeito de ouvir música hoje é diferente. Foram incompreendidos. Talvez por se contentarem em fazer um pop rock inofensivo. Só mesmo o I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It foi capaz de traduzir as tentativas dos anos anteriores.
O disco pode ser lido como uma balada dividida em duas partes – na primeira, a influência do debut album se faz muito presente. A abertura tem a mesma composição da abertura do primeiro disco, com um arranjo diferente: mais ousado, mais corajoso e muito mais sofisticado. Ainda no início, a banda presenteou o mundo com “A Change Of Heart”, terceiro single do disco, com quotes de “Robbers”. É quase a versão mais sofisticada e atualizada da música, ainda que a continuação definitiva do romance iniciado no primeiro álbum sobre dois ladrões – estilo Bonnie & Clyde – seja “Somebody Else” (abaixo), um estrondo no mundo pop. A composição, que dita praticamente a destruição inteira de um relacionamento de duas pessoas perturbadas, é acompanhada de uma melodia retrabalhada e se completa com uma masterclass de estética no seu clipe de 8 minutos e meio, referencial e provocativo.
A primeira metade do disco é o início da viagem, com músicas chiclete e letras extremamente provocativas como “Love Me” e “UGH!”, singles lançados ainda em 2015. Nada romântico, Healy fala sobre seu vício em cocaína, a histeria e comprometimento dos fãs, tudo isso em melodias extremamente dançantes, que enganam qualquer não atencioso em composições. Músicas como essas confirmam a consagração da aceitação do pop pelo The 1975. “It’s all pop music, at the end of the day”, Healy disse ao The Guardian (“É tudo música pop no final das contas”). O ritmo pop e dançante do disco se completa com “She’s American” (que faz os fãs esperarem até hoje pelo clipe gravado e nunca divulgado) e “The Sound”, single autoexplicativo com o seu clipe provocativo, que coloca a banda dentro de uma redoma de vidro sendo atacada pelas diversas críticas no início de sua carreira com quotes como “Unconvicing emo lyrics” e “I only heard Chocolate but I hated it”. Uma volta por cima do rock inofensivo criticado outrora com uma letra totalmente dedicada aos fãs.
Fica claro no álbum a (falta de) vergonha do The 1975 de ser definitivamente um grupo de classe média de Manchester, sofisticados, que desfrutam da vida sem travar guerras com policiais e a tradição: eles são parte disso, e são, principalmente, a nova cara da tradição inglesa. Por outro lado, aqui, Matty não queria continuar falando sobre a vida de um middle-class, muito menos reclamar sobre a vida de uma estrela. A banda ultrapassou o óbvio, que resultou em canções como “If I Believe You”, que pede por socorro a Jesus (caso ele exista mesmo) embalada em uma melodia extremamente minuciosa e romântica. Isso se segue da ousadia e ambição de músicas instrumentais (ou quase totalmente instrumentais) como “Please Be Naked”, uma obra de arte camuflada no meio do álbum, quase como uma divisão e preparação para o que está por vir; e “Loving Someone”, sarcástica e verdadeira, com a recitação de um poema nos últimos segundos. Além de canções quase mais ousadas que as citadas, como “Nana”, que fala sobre a morte da avó de Healy, onde os sentimentos são todos colocados na mesa, e “She Lays Down”, que descreve a depressão-pós parto, abuso de drogas e bebida da mãe do frontman, acompanhada de só um violão, com versos doídos e carregados de emoção.
Como toda obra extensa, algumas músicas não lançadas como single passam a fazer parte das preferidas dos fãs. “Lostmyhead” e “The Ballad of Me and My Brain” ilustram a passagem para a segunda parte do álbum – são faixas que se complementam por se seguir, nas quais a banda se permite ser experimental e gritante. Ao fim, o álbum presenteia o ouvinte com “Paris” e “This Must Be My Dream”, composições delicadas que embalam o ouvinte para o fim de uma viagem que começou falando de Kardashians e cocaína e percorreu caminhos longos, até chegar em letras despreocupadas e românticas.
I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It foi o benefício da dúvida dado pelo The 1975 aos seus fãs. Eles são os caras de Manchester que não quiseram fazer mais do mesmo e confirmar o que o mundo já conhecia deles. Quiseram ir além. Foram, audaciosos e confiantes. Os resultados nas críticas, festivais e vendas foram positivos – talvez mais do que o esperado –, e ainda assim são o menos importante. A busca era pela sinceridade musical, que foi reafirmada em cada faixa e transmutada para o visual nos clipes e emocional nos shows. Uma verdadeira obra-prima do mundo pop.











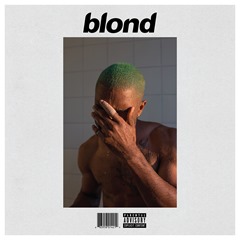
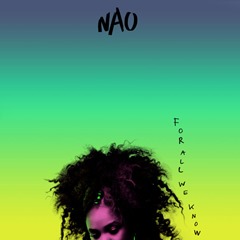





















0 comentários:
Postar um comentário