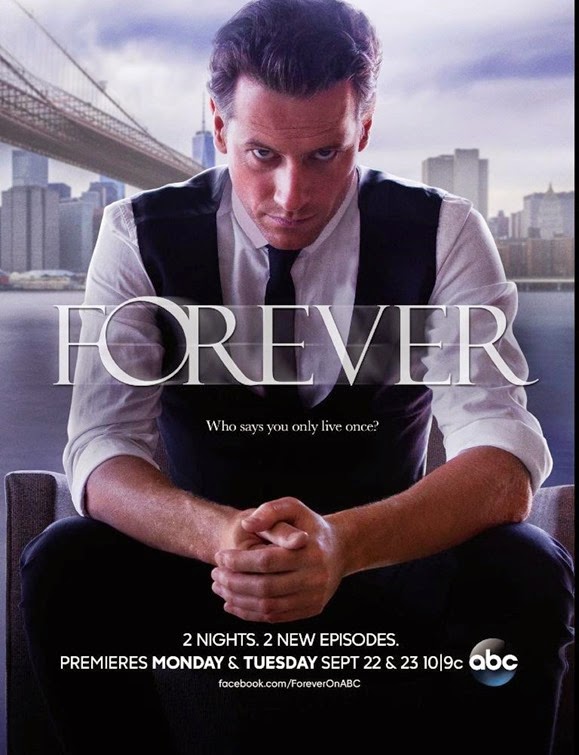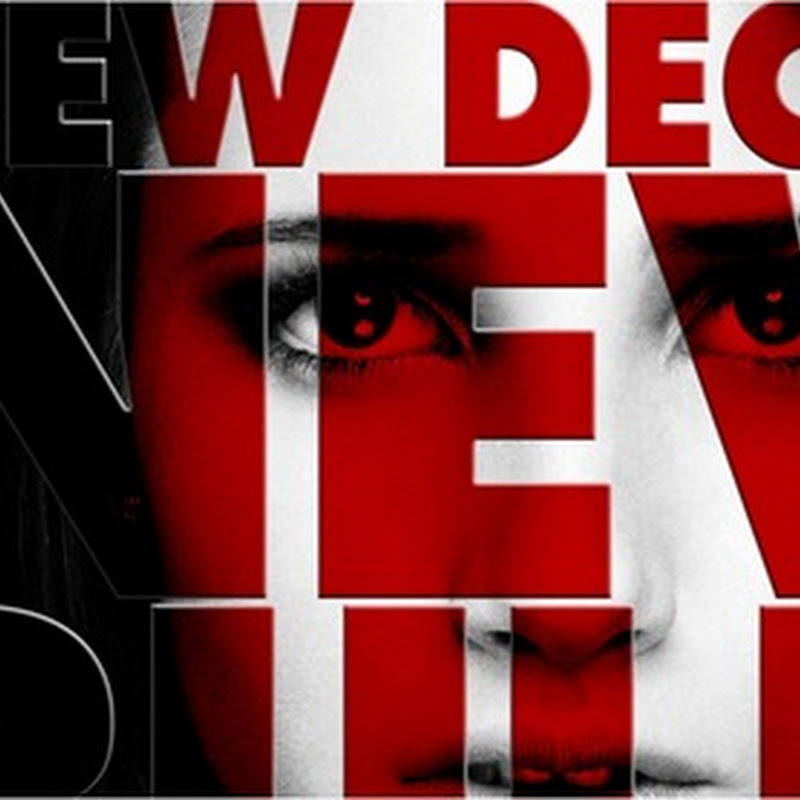texto por Caio Coletti
entrevista por Ilson Junior
Don’t speak Portuguese? Come take a look at the original English Q&A here!
Macaulay Hopwood e Roberta Fidora são os dois britânicos que compõem o surpreendente CURXES, projeto de música eletrônica alternativa que desde 2011 vem sendo notado por blogs musicais pelo mundo todo. O pequeno contingente de seguidores até agora não faz jus às músicas ultra-inventivas, inquietas, intensas e impressionantes que Macaulay e Roberta fazem. O CURXES é uma pérola a ser descoberta pelo grande público, que poderia muito bem comprar as ideias malucas dos britânicos e tirar a música pop do marasmo em que está atualmente.
Eles certamente vieram com a intenção de “balançar o coreto”, com seus visuais sombrios e caóticos e seus “instrumentos obscuros e objetos que fazem sons estranhos”, como o próprio Macaulay define nessa entrevista reveladora que os dois gentilmente concederam ao O Anagrama. Leitura obrigatória!
PS: No final da entrevista, pedimos ao duo que deixasse uma mensagem para os ouvintes. Sabe o que eles nos disseram? Uma frase simples e linda pra inspirar todo mundo: “Seja o capitão do seu próprio navio”.
O Anagrama: O nome CURXES significa algo especial pra vocês? Porque vocês o escolheram?
Macaulay: Nós tínhamos uma canção na nossa banda antiga, chamada “The Curse” (que depois virou a nossa “Spectre”), e nós gostávamos de como ela soava, então decidimos que seria como chamaríamos nossa nova banda. A razão pela qual usamos o X é obscura, mas gostamos quando vemos pessoas especulando o que significa. E só pra esclarecer, o nome é pronunciado “curses”.
Roberta: Eu também achei que foi apropriado, devido aos obstáculos que nós encaramos na banda antiga. Algumas vezes parecia que nossa sorte estava sempre em baixa, mas provavelmente estava tudo na minha cabeça.
O Anagrama: Quais você diria que são suas maiores influências?
Macaulay: David Bowie, The Beatles, The Clash, Depeche Mode, Wire… eles foram todos comentaristas culturais da sua época.
Roberta: Twin Peaks, Os Garotos Perdidos, Blade Runner, Sylvia Plath, as décadas de 40/50/60/70/80, e tudo o que nos cerca.
O Anagrama: Qual é a sua história com a música? Como vocês começaram a compor, tocar e cantar?
Macaulay: Eu não escutei muito música até em torno dos 11 anos, quando meus pais me levaram até uma exposição sobre os Beatles nas docas de Liverpool. Depois disso, eu passei a idolatrar Paul McCartney, e comprei uma imitação barata do baixo em forma de violino que ele tocava. Durante a minha adolescência eu fui um típico nerd e ficava no meu quarto tocando guitarra oito horas por dia, até entrar em bandas. Hoje em dia eu escrevo músicas religiosamente, sempre que eu tenho um momento livre, e coleciono o máximo possível de instrumentos obscuros e objetos que fazem sons estranhos. Em algum ponto eles sempre acabam em alguma música do Curxes. Eu tenho uma obsessão com sons interessantes, e o Curxes é o veículo perfeito para explorar seus usos de um jeito prático, e não só em casa. É também uma forma de escapismo, eu sou de uma cidadezinha quieta e precisava de algo criativo para fazer para não enlouquecer.
Roberta: Eu copiei o gosto musical do meu irmão desde muito cedo, o que consistia em música eletrônica e dance, na maior parte do tempo. Ele tinha alguns sintetizadores, uma guitarra e um módulo de mudança de voz, e eu tinha permissão de brincar com tudo isso também. Aos 8 anos, eu decidi que queria aprender saxofone, mas não conseguia erguê-lo para tocar, então eu acabei tocando órgão eletrônico ao invés disso. Por volta dos 11 anos, eu fui a um clube de dança, drama e canto em Portsmouth para reconstruir minha confiança depois de sofrer muito bullying na escola e, para reforçar o ponto de Macaulay sobre escapismo, eu percebi que me ajudou a transformar e articular aquelas más experiências.
O Anagrama: De onde vem a inspiração para as suas melodias e letras? Nos conte sobre o seu processo criativo.
Macaulay: Tendo sido influenciado principalmente pelos Beatles, a harmonia é o centro das minhas composições, apesar de textura e timbre serem muito importantes. Música pop acessível é ótima, mas se não houverem surpresas o ouvinte não vai ser desafiado – mas antes de qualquer coisa você precisa desafiar a si mesmo. Se você pensa em música como uma forma de arte, então precisa ser intelectualmente estimulante, e por isso tentamos jogar com o máximo possível de coisas diferentes sem perder a atenção do ouvinte. Em termos de processo criativo, nós dois pensamos nos acordes e nas melodias, depois nós ensaiamos as ideias e nos focamos nas partes mais fortes. Continuamos refinando a canção até sentirmos que ela está completa, e quando chegamos ao estúdio só polimos o nosso trabalho.
Roberta: Eu acabei de me mudar da cidade grande e voltar para casa por um tempo. Eu sempre costumava ter ideias quando estava no caminho para casa, no ônibus, e eu espero que isso volte num futuro não muito distante. Eu ficava sentada lá, cantarolando uma melodia ou ditando letras no meu celular, como o Agente Cooper (o protagonista Twin Peaks) ou alguma pessoa louca.
O Anagrama: Qual é a sua opinião sobre a música contemporânea e a indústria? Existem artistas atuais que vocês realmente admirem? Como a música de vocês se encaixa nesse contexto?
Macaulay: Há tanta ótima música contemporânea, mas é improvável que você a ache na TV ou em grandes estações de rádio comerciais. Infelizmente, você precisa de dinheiro por trás de você para atingir sucesso comercial amplo, o que significa que como artista você é relegado a ou viver de migalhas do seu próprio jeito, ou se tornar um escravo, um dente na engrenagem das grandes gravadoras. Sem querer soar muito amargo, na minha opinião a maioria das músicas na TV e rádio é pop manufaturado derivativo, lançado usando fórmulas testadas e aprovadas que não desafiam nem ofendem ninguém. Como um blogueiro que conhecemos expressou muito suscintamente, é “o equivalente auditivo de um incenso”. Críticos de música experientes, no entanto, vão destacar boas canções, independente de em qual gravadora os artistas estão ou a qual gênero eles pertencem, e através desses meios eu descubro montes de ótimas músicas – demais até pra listar. Eu admiro qualquer artista contemporâneo que se esforça para criar algo extraordinário. Muitos dos artistas estabelecidos parecem estar no piloto automático – assim que eu me sentir assim, eu vou parar de fazer música.
Roberta: Eu não acho que nós queremos nos encaixar em um contexto, mas sim expandí-lo. Há muitas coisas inaceitáveis que aconteceram e continuam acontecendo na música. É tudo uma questão de reconhecer essas coisas e tentar fazer algo melhor, mais inteligente e mais autêntico, e ao mesmo tempo manter um ar de entretenimento. Outros artistas que eu, pessoalmente, admiro, são East India Youth, Sleaford Mods, Sebastien Tellier, Ceephax Acid Crew e Jehnny Beth, do Savages. Eu invejo a eloquência deles de várias formas diferentes.
O Anagrama: Quando vocês decidiram começar a postar as canções no Youtube/Soundcloud/Bandcamp? Quando vocês sentiram que elas estavam prontas para serem ouvidas?
Macaulay: Nós tendemos a trabalhar nas nossas canções por um bom tempo antes de lançá-las, e algumas passam por duas ou três versões diferentes antes de realmente serem gravadas e colocadas online para o consumo do público. Nós não temos a melhor ideia de como a nossa música vai ser percebida enquanto estamos escrevendo, mas a resposta a tudo até agora tem sido impressionantemente positiva. Agora estamos prestes a gravar o nosso primeiro álbum e medir a reação.
Roberta: Postar as nossas canções online tem sido maravilhoso porque encontramos pessoas de todo o mundo que dividem uma mentalidade e valores parecidos, e isso é incrivelmente valioso para nós. Apesar de que quando passamos muito tempo com hashtags e discursos prolixos, especialmente quando pessoas erráticas e preconceituosas estão envolvidas, eu espero acordar e descobrir que a internet foi só um pesadelo horrível. Eu sempre me senti deslocada na sociedade que vivemos hoje em dia. Em relação ao momento que decidimos postar nossas músicas online, no entanto, demora um tempo para construirmos o conceito completo. Eu me sento e tento criar a arte de capa dos nossos lançamentos bem antes de postarmos, para tentar representar visualmente as letras, ou nós entramos em contato com o nosso amigo Rob (@Zomtographer) para ideias de vídeos. Por exemplo, as cabeças de periquito para “Avant-Guarded” demoraram bastante para fazer, com arame e papel-machê, antes de pintar – então as coisas precisam ser bastante planejadas. Nós queríamos que o acompanhamento visual refletisse tanto os aspectos divertidos quanto os aspectos agressivos da canção, então enquanto isso não estava completamente pronto, ela ficou guardada por alguns meses.
O Anagrama: Quais são seus objetivos futuros? O que vocês veem daqui a alguns anos, para suas carreiras?
Macaulay: Poder deixar o meu trabalho para focar o tempo inteiro na música seria ótimo, mas a probabilidade disso acontecer é cada vez menor, com o jeito que a indústria musical é. Compor, gravar e fazer shows o mais frequentemente possível também seria ótimo, mas o Curxes é tão divertido que eu continuaria fazendo mesmo que só houvesse eu mesmo ouvindo.
Roberta: Eu gostaria de me sentir satisfeita e sentir que demos uma contribuição divertida e genuína na música eletrônica. Eu gostaria que periquitos fossem reconhecidos seriamente como animais de estimação. Seria excelente se nós começássemos a falar mais de igualdade. Além disso, eu quero que alguém escreva algo malicioso e cômico na nossa página da Wikipédia, quando tivermos uma.
DESCUBRA MAIS SOBRE O CURXES
CURXES.COM / Facebook / Twitter / SoundCloud / YouTube / Bandcamp