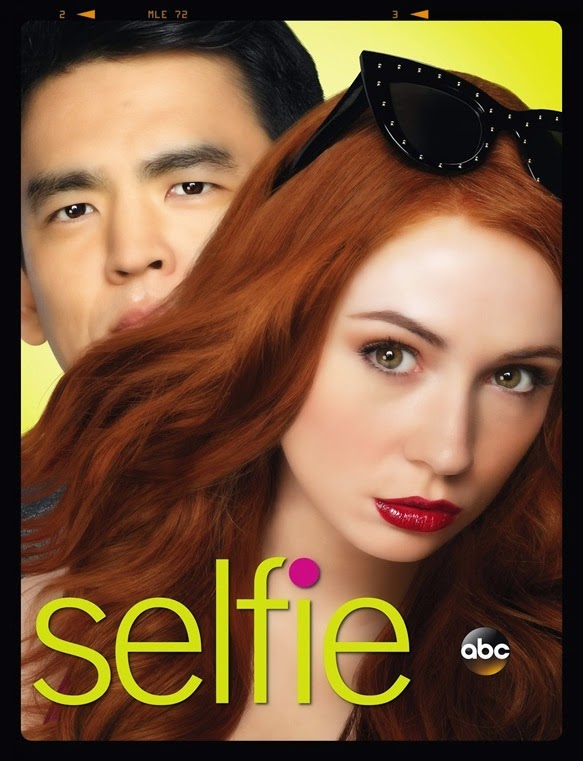por Caio Coletti
Outro dia me vi enunciando em voz alta uma coisa que já estive pensando faz algum tempo: “a era de ouro da Pixar passou”. Por boa parte da década passada, a empresa representada pelo mascote Luxo Jr. (sim, esse é o nome do abajurzinho da vinheta da Pixar) representou a mais importante agente em um processo inevitável – o reconhecimento da animação como o espaço cinematográfico em que circulam as ideias mais originais de uma Hollywood viciada em continuações, adaptações e remakes. Depois de ser absorvida pela gigante-em-crise Disney, em 2006, a empresa comandada por John Lasseter fez um trabalho brilhante em retirar a reputação do estúdio do Mickey da lama e devolvê-lo ao posto de produtor dos mais largamente reconhecidos e amados desenhos animados do planeta. A força criativa da Pixar fez bem à Disney, mas será que as correntes corporativistas da Disney fizeram bem à Pixar?
Antes da absoluta apoteose criativa que foi Wall-e, em 2008, a empresa produziu uma sequência verdadeiramente espetacular de filmes, e filmes muito diferentes entre si: a comédia-de-amigos-improváveis Monstros S.A., a fábula moral sobre a relação pai-e-filho Procurando Nemo, a aventura nostálgica Os Incríveis, o alucinante Carros, e o irresistível Ratatouille. Desde então, surgiram três continuações de filmes anteriores da empresa (Carros 2, Toy Story 3, Universidade Monstros), entre os quais o terceiro capítulo da saga dos brinquedos que tomam vida foi o que se deu melhor em termos de qualidade, ganhando pontos com o espectador que se enxergou na história de crescimento e abandono das fantasias de Andy. A única aventura original que foi produzida, Valente, saiu mais como um filme de princesa da Disney com um quê de modernidade do que como um produto genuíno da mente geniosa dos criadores desses filmes citados anteriormente.
Os próximos anos parecem guardar o renascimento desse espírito da Pixar. The Good Dinosaur e Inside Out, ambos marcados para 2015, chegam com premissas bem fora do convencional: o primeiro, a ser dirigido por Peter Sohn (do curta Parcialmente Nublado – assista aqui) após uma série de atrasos e demissões na equipe responsável pela finalização do projeto, conta a história de um dinossauro que faz amizade com um menino humano quando parte em uma missão para restaurar a paz em seu vilarejo; o segundo, que está nas mãos de Pete Docter (Monstros S.A.), é contado pela perspectiva de versões personificadas das emoções dentro da cabeça de uma criança.
Inside Out, inclusive, ganhou um trailer que remonta todos os sucessos anteriores da Pixar. Será um retorno a tempos mais criativos e vibrantes para a empresa? Confere aí embaixo, e não deixe de ir ao cinema no próximo dia 02 de Julho, data marcada para a estreia. The Good Dinosaur, por sua vez, deve chegar por aqui em Novembro de 2015.
Banguela, Soluço e Grug
Com essa queda criativa mais do que perceptível dentro da Pixar, principalmente por conta da quantidade de trabalho dispensada a um outro projeto (a modernização e afinação da Disney Animation para o mercado do século XXI), é claro que alguém apareceria para preencher o vácuo deixado por ela. E é mais do que justo que apareça, é claro. Por mais nobre que seja a missão na qual os profissionais da Pixar se engajaram dentro da sua nova empresa-mãe, e por mais respeitosos que sejam os créditos conseguidos por John Lasseter e cia. durante os seus anos de absoluto domínio artístico na área, é preciso ter alguém trabalhando para que a animação deixe cada vez mais de ser considerada um gênero – classificação que o diretor Brad Bird (Os Incríveis, Ratatouille) sempre abominou –, e seja reconhecida como um recurso para contar uma história. Um recurso muito libertador, é verdade, e é preciso que alguém se aproveite dessa liberdade toda.
A Universal se deu bem com Meu Malvado Favorito e a sua continuação, que consegue a proeza de ser um triunfo de sarcasmo, referências culturais e fofura, tudo ao mesmo tempo. A Sony ganhou uma franquia (e a esgotou rapidamente, de maneira desastrada) em Tá Chovendo Hambúrguer, e provavelmente vai fazer o mesmo com Hotel Transylvania, que está com continuação marcada para 2015. Quem se deu melhor nessa história toda seguiu uma receita que é muito conhecida da Pixar dos bons tempos: roteiro em primeiro, segundo e terceiro lugares na lista de prioridades. Reinventando-se de maneira espantosa mesmo com o lento e doloroso esgotamento de sucessos como as séries Shrek e Madagascar, a DreamWorks Animation construiu, mais ou menos de 2008 pra cá, a aura mais do que merecida de recanto criativo da animação digital.

Foi-se o tempo em que a DreamWorks fazia os filmes que divertiam as crianças enquanto davam “piscadelas” para os adultos em insinuações maldosas e referências pop obscuras. Como provou-se nas desgastadas continuações de Shrek, essa receita cansou, e se tornou contra-produtiva em relação à história que o filme tinha (ou não tinha) para contar. Aos poucos, a DreamWorks subversiva deu lugar à DreamWorks que experimenta com gêneros diferentes e faz homenagem (ao invés de parodiar) aos gêneros mais improváveis. Em 2008, Kung Fu Panda apareceu com visuais respeitáveis e uma atitude veneradora diante da cultura do kung fu – tudo sem abrir mão de contar sua história de superação e descoberta do verdadeiro potencial. Em 2009, Monstros vs Alienígenas fez US$400 milhões de bilheteria celebrando de maneira saborosamente carismática a cultura dos weirdos e, principalmente, os filmes de monstro dos anos 50.
E, finalmente, em 2010 nós conhecemos Soluço e Banguela, os inesquecíveis protagonistas de Como Treinar o Seu Dragão, filme levemente inspirado em um livro de Cressida Cowell. Não só o roteiro bolado pelos também diretores Dan DeBlois e Chris Sanders (dupla responsável por Lilo & Stitch) fugiu bastante de uma simples adaptação da trama urdida pela autora, como também nos apresentou a uma trama envolvente do começo ao fim. Como Treinar o Seu Dragão é uma experiência imersiva impressionante – engraçado, tocante e empolgante como nenhum dos filmes citados nos parágrafos acima conseguiram ser. A obra de DeBlois e Sanders consegue ser tudo isso porque não tem medo de explorar as liberdades da sua técnica (a animação), nem faz concessões a natureza de seu gênero (aventura épica, dessas de capa-e-espada). É uma obra de inventividade notável porque se permite ser, e porque se importa tanto com seus personagens quanto com o número de piadas que vai atirar na cara do público.
E tudo isso é elevado à enésima potência pela continuação, lançada esse ano. Emocionalmente cruel, cheio de novos personagens e visuais arrebatadores, Como Treinar o Seu Dragão 2 é a continuidade de uma história de amadurecimento tão inesquecível quanto aquela protagonizada por Andy e Woody nos três Toy Story. É uma aventura cheia de riscos, e na qual eles são realmente concretos. DeBlois, que assumiu a cadeira de direção sozinho no segundo filme, nos faz esquecer que estamos assistindo um desenho animado, e nos mergulha em uma aventura mais excitante do que qualquer coisa saída dos livros de Tolkien. Como Treinar o Seu Dragão 2 é a melhor coisa a ter acontecido na animação digital desde Wall-e, e isso diz algo sobre a posição em que a DreamWorks está nesse momento.

Entre um filme e outro da maior franquia que o estúdio tem hoje em dia, a DreamWorks lançou os elogiados A Origem dos Guardiões, Megamente e As Aventuras de Peabody & Sherman. Foi Os Croods, no entanto, que deu ao estúdio mais uma indicação ao Oscar para o currículo, a segunda franquia iniciada em menos de cinco anos (o segundo filme está marcado para 2017, junto com o terceiro Como Treinar o Seu Dragão), e uma marca de storytelling para chamar de sua. Digam adeus aos sarcásticos heróis dos filmes anteriores do estúdio, porque a era de ouro da DreamWorks achou seus protagonistas em pessoas confrontadas com um mundo em transformação, que acham suas próprias formas muito particulares de viver.
O visualmente espetacular Os Croods é uma aventura de tirar o fôlego quando precisa ser, e um drama familiar que foge do previsível. É uma explosão de criatividade na construção de um mundo novo, habitado por criaturas novas e incessantemente fascinantes. É uma história sobre rebeldia e abraçar mudanças, e tem a melhor performance de Nicolas Cage em séculos (mesmo que seja só por voz). Se tem algo que Os Croods definitivamente não é, é “uma grande animação”. Não, é mais que isso. É um arrasa-quarteirão com sentimento, e é cinema de primeira categoria.